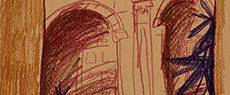Postado em
Um hino à ausência

Por Phabulo Mendes
Eu estava em minha casa e esperava que a chuva chegasse é um hino à ausência. Essa ausência, experimentada de diversas perspectivas, estrutura o texto, perpassado de hiatos, vazios e brechas, de Jean Luc-Lagarce. Na verdade, trata-se de dramaturgia cuja mola propulsora é a indefinição, a dúvida, o constante tatear, a hipótese. Preocupado em renovar a dramaturgia contemporânea, Lagarce produziu, ao longo de sua vida (breve), algumas peças em que percebemos o eco de autores caros a ele, como Anton Tchékhov, Samuel Beckett, Eugène Ionesco. Do contato com esses autores – muitos deles encenados por sua companhia teatral La Roulotte –, Lagarce parece ter constituído um dos pontos nevrálgicos de seu teatro: a ausência.
Dessa forma, a ausência é vista aqui como um mecanismo crucial dramatúrgico, que participa não apenas como tema em seus textos, mas também configura um princípio estilístico. Inicialmente, pensando somente na dramaturgia, encontramos inúmeras formas de “vazios”. Em Eu estava em minha casa e esperava que a chuva chegasse não há nenhuma marca ou rubrica que nos direcione durante a leitura. As falas, tecidas pelas cinco mulheres, não delimitam espaço ou tempo. Sabemos que estão na casa em que moram, perto de um bosque, por exemplo, à espera do caçula. Mas sabemos disso graças às falas. As referências espaciais se descortinam, ao passo que as palavras são pronunciadas. Assim, quando se referem ao quarto onde, hipoteticamente, descansa o homem por quem tanto esperavam, não há como saber onde se encontram: se numa sala, num quarto ou numa varanda. Não existe nenhuma marcação indicando cenário, descrição de personagens ou outro elemento que delineie qualquer característica física, seja de personagens, coisas ou locais. Tudo o que temos é a imaginação das mulheres que recriam, por meio do contar lagarceano, povoado de repetições, a “volta” do caçula.
As cinco mulheres que compõem esta peça não têm nome. Em relação à Mãe, as demais são nomeadas de acordo com a quantidade, também desconhecida, de anos que possuem. Temos então: A Mais Velha de Todas, A Filha Mais Velha, A Segunda e A Mais Nova. Ocultar o nome das protagonistas corrobora não somente a dimensão “ausente”, na qual paira o espetáculo, mas também instaura uma imprecisão temporal. Além da idade delas, deparamo-nos com outra indefinição em relação à personagem mais velha. Descrita apenas como A Mais Velha de Todas, não se sabe a relação de “parentesco” com as outras, com quem parece conviver desde sempre. Seria ela irmã da Mãe, uma prima que sempre viveu junto, todo esse tempo ou talvez irmã do marido, o qual também apenas é citado durante o espetáculo? O terreno da dúvida e da hipótese parece ser a única certeza que temos.
Pela maneira como se descortinam as falas das personagens, pode-se pensar em um texto puramente metalinguístico, em que cada uma das personagens ensaia e expõe sua versão da história, enquanto as demais assistem. Em alguns momentos, essa exposição parece ser feita de forma solitária – constituindo verdadeiros solilóquios – noutras, surgem (ou imaginamos?) alguns diálogos. Como forma de exemplificar a primeira ocorrência, cito a abertura da peça, que acontece com a fala da Filha Mais Velha. Nela a primeira frase, que abre com a imagem da chuva tão esperada, fazendo alusão direta ao título da peça, é acompanhada de outras que parecem suceder espontaneamente essa imagem-núcleo que, detona, de modo ininterrupto, as demais frases que a seguem. Essa personagem, quando de posse das palavras, parece estar só. Em meio às indagações lançadas, a fala inicial da Filha Mais Velha deposita os ingredientes com os quais o dramaturgo costuma trabalhar: o caráter incerto dos fatos, o embaralhamento constante de uma história, a multiplicidade de pontos de vista em torno de um acontecimento, o aspecto hesitante das palavras, a repetição contínua e prismática.
Em relação aos diálogos, em parte considerável deles, notamos também a presença de ruídos. Não se trata de diálogos tradicionais, daqueles que imaginamos quando lemos uma peça teatral, segundo os moldes convencionais. Em Lagarce, eles aparecem truncados, como se, propositadamente, alguma frase ou parte de um diálogo estivesse deliberadamente oculto. No texto há constantes quebras nas falas. Em muitas delas, encontramos cortes bruscos, rompendo a sequência discursiva. Noutros casos, algumas palavras aparecem em itálico, apontando uma ênfase por parte do autor a determinadas palavras e expressões. Fica a cargo de quem lê indagar o porquê de frases cortadas ou ainda o uso das palavras em destaque, procurando complementar e encaixar do melhor modo possível alguma informação, como forma de “completar” o texto.
Vendo dessa perspectiva, os ruídos que pululam nesta peça assemelham-se ao caráter incerto de muitas obras de arte, típicas do período das vanguardas européias. Nelas – penso aqui na obra de um Picasso ou de um Matisse – o olhar do espectador deve preencher, por vezes, a linha que estanca antes de concluir o contorno de um desenho. Alguns desenhos são “finalizados” pelo olhar do espectador que agora precisa não apenas contemplar, mas participar ativamente da construção de determinadas obras. Nesse sentido, o ruído instiga, provoca, fazendo com que o espectador tome partido, complemente, com sua subjetividade, algo inacabado. Ele não pode mais apenas olhar de forma indiferente.
Se o ambiente da peça constrói-se pela indefinição (aqui, ali, lá longe são alguns dos advérbios usados em certos momentos, a fim de demarcar um espaço), o quarto do caçula, por outro lado, fica no andar de cima. Nele, repousa (dorme/sucumbe/perece) o filho, de acordo com elas. Sabemos que este local da casa encontra-se no andar de cima também pelas referências dadas pelas mulheres ao longo do texto. Apesar de nenhuma cena se passar no quarto, elas o conhecem bem, melhor ainda, elas o preservam cuidadosamente. Diz, em dado momento, A Mais Velha de Todas:
“No quarto dele, nós deixamos as persianas fechadas como elas sempre ficaram, deixando passar, de dia só um pouco de luz, e de noite, só um pouco de brisa.
Ele lá na cama dele, nós sempre guardamos essa cama, sem nunca termos nem pensado em nos livrar dela. (...)
Esse quarto, era o quarto dele, nós não falávamos sobre isso, eu limpava-o, arrumava-o até não poder mais e nos nunca nem pensamos em tirar os móveis dele ou trocar a pintura.
De novo, ele está no quarto dele.”
Esse quarto, como vemos no trecho, é seguramente conhecido por elas. Detalhes, como as persianas que lá existem ou a pintura que elas custam em preservar, surgem de forma clara e são utilizados, em todo o texto, apenas para a descrição/construção do quarto dele. Do restante da casa, nada se conhece. Não sabemos se elas dormem também no andar de cima, se alguma delas dorme ao lado do quarto do caçula ou ainda se há mais quartos neste andar. A existência desse espaço, assim como das persianas, da cama e da pintura reside apenas de forma alusiva. Isso parece ser confirmado por meio da própria fala da personagem que, ao precisar esse importante local, vale-se do pronome demonstrativo “esse”, como se o quarto estivesse (fosse um ambiente concreto) e, concomitantemente, não estivesse (fosse apenas imaginado e atualizado apenas pelas palavras), dentro da casa.
Apesar da hesitação e do impasse instaurado, é no quarto que “está” o filho, dolorosamente esperado por elas. Logo, é para este ambiente que todas se voltam, verbalmente, em alguns momentos do texto. Assim, o quarto é espaço sagrado para elas, pois lá repousa indefinidamente o “objeto” totêmico de suas falas. Em certo sentido, esse local pode ser pensado como parte de um todo, ou seja, da mesma forma que não há indícios concretos da presença física do filho, Lagarce oculta a materialidade desse ambiente. Contudo, a maneira como o texto foi elaborado parece sempre querer ludibriar-nos, uma vez que as descrições do quarto são as mais detalhadas, fazendo-nos mesmo imaginá-lo (amparando-nos nas falas das mulheres), não apenas enquanto um, dentre os demais ambientes que compõem a casa, mas pensando que é lá, nesse quarto, que está resguardada a imagem do filho, corroborando ainda mais o campo paradoxal pretendido por Lagarce. Enfim, diferente dos demais ambientes onde se desenrola a peça, os quais aparecem apenas como frágil desenho, sem contorno nítido e sem delimitação espacial, o quarto do filho torna-se, paradoxalmente, evidente.
Isso porque a figura do filho é o motivo do espetáculo e, por isso, o fio condutor desse intrincado novelo de histórias. Tudo gira em torno da presença do único “macho” da família, o “caçula”, que reside sólida e estruturalmente na imaginação das cinco mulheres que esperam e sempre esperaram o seu retorno. Do desfilar de “ausências” que arregimentam esta peça, o filho é a principal delas. É este ente ausente – redivivo pela palavra – que trafega, circula, convive entre os seres que tanto o aguardam. O fato de não estar ali, em corpo, parece tornar sua presença-ausência ainda mais complexa e, por esse motivo, impactante. Em muitos momentos do texto, enunciados, amparados por locuções adverbiais, fazem-nos compartilhar, ora com uma, ora com outra, a imagem dele: “olho para ele vindo em minha direção, em minha direção, em direção de casa” (A Filha Mais Velha); “nós o pegamos, uma debaixo dos braços e a outra segurando os pés – fui eu que segurei os pés – e nós subimos até o andar de cima” (A Mais Velha de Todas); “ele parte, desce a estrada e deixa a nossa casa para trás, lá longe, perto da virada, depois do bosquezinho” (A Mais Nova). Nesse jogo, o dramaturgo apresenta-nos a ótica multiforme e camaleônica, usada por cada uma das cinco para descrever o ausente.
José Alves Antunes Filho, mestre incansável, debruça-se então sobre esse texto de Jean-Luc Lagarce, destituído de heróis ou heroínas, e o transpõe para os palcos. Com lupa certeira, destrincha-o e enfatiza os pequenos detalhes, os quais, atentamente captados por seu olhar, transformam-se, graças à sua montagem, em signos potentes. Entretanto, para dar corporeidade a um texto que se consolida na ausência e, sobretudo, na sutileza de suas inúmeras e sinuosas entrelinhas, o diretor, apoiando-se na sua experiência (longa) sugere contornos físicos e bem delineados, característicos de seu teatro e de seu modus operandi.
Algumas movimentações, como forma de resolver cenicamente essa dramaturgia embaralhada, são propostas por Antunes. A primeira que salta aos olhos é a disposição cênica do palco, terreno fértil e sagrado para este diretor. Ao entrar no teatro, o espectador se depara com um palco vazio, repleto de cadeiras e uma mesa, quase no centro, onde repousa um livro.
A disposição destas cadeiras não segue um rigor. Espalham-se distintamente, preenchendo o palco. Uma vez escrevi sobre o impacto que a abertura dos espetáculos de Antunes me causa, pois funciona como um convite à imaginação. Quando assisto a suas peças e me deparo com o palco, antes de iniciar o espetáculo, começo a imaginar o que poderá brotar dali. De um ambiente quase vazio, os poucos elementos colocados por Antunes, enquanto “aguardam” a entrada da plateia, já carregam em si, mesmo ali, estáticos, uma carga de significados. Em outras palavras, antes mesmo de começar propriamente o espetáculo, o palco, ainda não habitado pelos atores, parece introduzir, metonimicamente, as ações que se descortinarão dentro em pouco. Assim, por exemplo, em Eu estava em minha casa e esperava que a chuva chegasse, o livro, colocado sobre a mesa, e as cadeiras, ali postas, parecem nos questionar, lançando-nos uma série de indagações. Como e em que momento o livro será utilizado? Elas sentarão em todas as cadeiras, no decorrer do espetáculo? Quando manuseado por determinada atriz, o livro servirá como elemento de distração ou como mecanismo para explicitar revolta? As cadeiras mudarão de lugar? O livro apaziguará reações contrárias ou então elucidará alguns impasses? O conjunto das cadeiras forma um espaço determinado?
Assim, o espectador é convidado a sondar, previamente, o local. Nesse caso, ele verá muitas cadeiras brancas, estrategicamente desorganizadas, sobre um chão negro quadriculado por linhas brancas. Delimitando este ambiente indefinido, há um tecido preto de veludo que cobre os lados e o fundo do palco, sempre à vista do olhar do espectador. Entretanto, há uma continuação desse espaço. Logo acima das pretas “paredes” aveludadas, vê-se uma espécie de painel (também nas laterais e no fundo do palco) cujas formas florais, de fundo azulado, pode reenviar-nos tanto às ninfeias de Claude Monet, como aos motivos florais presentes em composições de outros artistas, pertencentes também à vanguarda modernista europeia, como Odilon Redon ou Marc Chagal. O contraste gerado por esse painel pode ser lido duplamente: não apenas reforça a ambiguidade e dubiedade do espaço (estaria ele representando o quarto do filho?) assim como parece aludir, imageticamente, à esperança que deve manter unida essas mulheres, apesar de todos os empecilhos enfrentados (essas flores aludiriam ao bosque de que falam?).
É nesse espaço que se dará o jogo cênico lagarceano, encabeçado por Antunes Filho. Assim, após a entrada da primeira atriz (Fernanda Gonçalves), que interpreta A Filha Mais Velha, e de seu solilóquio inicial, Antunes começa a nos mostrar como se deu o trabalho de desembaraçar esse texto. Ao entrar, a atriz percorre, com o olhar, o palco, que lhe parece habitual e familiar, e depois, dirige-se mais para o fundo. Após alguns instantes em silêncio, aponta o olhar para outra direção, como se contemplasse, ao longe, o céu e seu emaranhado de nuvens, que impedem a chegada da chuva. Só depois começa a falar.
Para analisar o caminho concebido por Antunes, voltemos às ausências. O palco com cadeiras dispostas “aleatoriamente” dialoga em cheio com o vazio das indicações de Lagarce, sobretudo os da ordem da espacialidade. A indefinição dos ambientes do texto lagarceano é corroborada pelo palco-móbile pensado pelo diretor, que desnuda os mais variados espaços percorridos por elas, imaginados no decorrer da peça: salas, ante-salas, jardim, terraço, pátio. Antunes Filho, no esforço de transpor para os palcos um texto árduo que sugere o menos possível àquele que pretende encená-lo, a partir desse palco-móbile, que se transforma continuamente graças às marcas precisas das atrizes, parece seguir direção análoga à de Lagarce, isto é, representar teatralmente a indefinição, corroborando o jogo “presente-ausente”, coluna dorsal do espetáculo.
Esse palco que se transmuta em ambientes distintos, graças ao chão preto quadriculado, lembra um tablado de um jogo de xadrez. Contudo, a maneira como conduzir esse jogo é feita pelas cinco atrizes, “peças” fundamentais para sua existência. Assim, da mesma forma que podemos pensá-lo como base de um jogo de xadrez, caso abstraíssemos as cadeiras e a mesa, este chão parece se transformar em um quadro negro cujas linhas retas, brancas e puras, assemelham-se aos traços limpos e racionais de obras de vários artistas – como exemplo me vem à memória algumas obras de Piet Mondrian, Lygia Clark, Alfredo Volpi, Maria Vieira da Silva.
Como forma de resolver a dramaturgia detetivesca de Lagarce, Antunes explora ainda mais a metáfora do jogo, extrapolando o aspecto físico, concebido no palco. Para isso, as cinco atrizes se valem de uma série de signos para revelar e ocultar, ao mesmo tempo, o “jogo” que partilham com o espectador. O primeiro deles é feito com o uso de uma caixa, contendo alguns objetos. Ao longo do espetáculo, quando A Mais Nova (Daniela Fernandes) é “convidada” pela Mãe (Suzan Damasceno) e pela Filha Mais Velha a pegar a caixa depositada por esta, minutos antes, na mesa, é para um jogo “secreto”, jogado apenas por elas que somos convidados a assistir. Não sabemos como funcionam as regras. Após pegar a caixa, A Mais Nova, diante das demais, oferece-a, aberta. Não se sabe o que precisamente está guardado nela. Somos conduzidos pela sugestão e pela hipótese. Pelo som emitido, quando, uma a uma, hierarquicamente, apanha algo que está dentro da caixa, imaginamos que elas pegam pequenos objetos, que podem ser pedras ou dados. Cada espectador, seguramente, indaga-se. Serão pedras? Dados? Para que servem? Serão de tamanhos variados? Serão coloridas e quem pega determinada cor, é permitido tecer alguma consideração sobre o caçula ou sobre a história delas? Cada uma delas só pode pegar um objeto desses? E se pegarem mais de um, a tarefa que precisam cumprir para continuar nesse jogo será mais árdua? Caso peguem determinado objeto, precisam elas sugerir novos contornos para a mesma história já contada ou continuar a mesma fala ensaiada? Enfim, estas e outras indagações são deixadas a cargo de cada espectador. Somos nós que devemos, a nossa revelia, criar suposições.
Essa imagem metafórica do jogo leva também a outras saídas encontradas pelo diretor. Na esteira dessa ideia, quando da reunião das cinco na casa – é interessante perceber que quando as cinco se reúnem, é sempre A Mais Nova (por ser a mais nova delas?) a pegar a caixa para começar mais uma “partida” –, o que seria jogo pode nos remeter também a uma espécie de ritual ou seita. Se assim imaginarmos, as regras dessa “seita” são partilhadas também somente por este grupo restrito de mulheres, que terão de esperar o tempo que for necessário. Esta espera pode estar ligada ao despertar do caçula que dorme um sono indefinido, no quarto, no andar de cima, ou então a alguma doutrina que apenas elas sabem como proceder. Antunes dá contorno a esta ideia, por meio de dois elementos: o primeiro físico e concreto e o segundo “ritualístico”.
O primeiro é conduzido pela Mais Velha de Todas (Rafaela Cassol), que coxeia levemente de uma perna, signo construído por Antunes, que nos leva a pensar não apenas em sua idade, mas também na resignação adquirida ao longo dos anos. Ela, no momento da “reunião” – é interessante destacar que nos dois momentos que se encontram, as atrizes ficam de costas para a platéia, mais ao fundo do palco, formando uma espécie de semicírculo, o que aguça ainda mais a imaginação do espectador, acostumado a ver as cenas acontecerem sempre de frente para o público, o mais visível possível –, entra segurando uma espécie de estandarte, predominantemente, vermelho. Ela, e somente ela (por ser a mais velha de todas?), é quem segura essa insígnia, símbolo da doutrina que, “religiosamente”, parecem seguir.
Aliado a isso, há o elemento “ritualístico”, feito pelo sinal que fazem com as mãos como forma de se cumprimentarem, seja quando iniciam a “reunião”, seja no término dela. Tendo em mente os muitos significados que expressões e gestos possuem em algumas religiões, destaco um dos significados desempenhados pela mão na religião budista e hinduísta, ou seja, os chamados mudras. Para esses povos, estender as mãos e os dedos significa demonstrar ausência de medo. Atrelando o significado desse gesto ritualístico para a gestualidade elaborada por Antunes, poderíamos pensar que ao fazê-lo, A Mãe, seguida pelas demais, aludiriam à coragem e à persistência que elas devem ter em não abandonar o filho que “dorme”, assim como devem persistir continuamente com a ideia que dele e de sua chegada fazem. Enfim, esse gesto, pontualmente imaginado pelo diretor, configura mais um elemento cuja função parece ser a de conduzir e organizar o intenso e truncado labirinto verbal lagarceano.
É interessante ressaltar que o uso de elementos simbólicos percorre os espetáculos de Antunes Filho. Aqui, ele transporta para essa dramaturgia contemporânea, explosiva em concessões, elementos e símbolos, por ele utilizados em outros espetáculos. Para os que acompanham seus espetáculos, o uso de estandartes aparece em sua adaptação de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto (2010), por exemplo. De modo semelhante, duas atrizes de Eu estava em minha casa e esperava que a chuva chegasse, A Mãe e A Mais Velha de Todas, aparecem com a cabeça envolta em “véus” negros, que nos remetem à imagem de alguns personagens de sua potente montagem de Medeia, de Eurípedes (2001), para citar apenas uma peça. Pensando nessa última imagem, uma delas, A Mãe, guarda muito de sua ferocidade amena graças à destreza da atriz Suzan Damasceno, que, revisita, nesse espetáculo, e em certos momentos, uma pungência que parece remeter ao papel de ama que fazia, magistralmente, em Medeia, no qual também portava um véu negro cobrindo a cabeça.
Estas soluções dão a este espetáculo uma ambientação soturna e dramática. Entretanto, e sabendo do atento leitor que é, Antunes Filho, respeitando o texto do dramaturgo francês contemporâneo e estabelecendo árduo combate com ele, não se esquece dos momentos “amenos” que existem, ainda que poucos. Um desses momentos é feito com a retomada da cor vermelha. Se na primeira ocorrência, com o estandarte carregado pela Mais Velha de Todas, essa cor possui conotações ligadas ao sagrado, já que é representativa da crença inabalável de todas elas; no segundo momento, a cor vermelha está envolta por um “véu” telúrico e, de certa forma, dessacralizado. Para isso, Antunes parte de uma das poucas indicações textuais do autor: o vestido vermelho a que alude, durante a peça, A segunda, interpretada pela atriz Viviane Monteiro. É ela, com seu ar carregado de “vulgaridade”, aproveitando-se da bolsa do irmão, deixada pela Filha Mais Velha, momentos antes de sua entrada, que apresentará sua versão da história. Para isso, retira da bolsa o vestido vermelho e rememora, com a vestimenta nos braços, o desejo de usá-lo, assim que o irmão acordar para, juntos, irem ao baile da cidade, a fim de causar inveja nos “cafajestes” que lá estarão presentes, e que tanto teimam em cuidar da vida alheia. Entretanto, quando a atriz retira o vestido da bolsa, é a cor vermelha, sugerida apenas textualmente pelo autor francês, que vemos ganhar o palco e tingir de encarnado vivo aquele ambiente predominantemente soturno. A concretude e a cor desta roupa anunciam e exteriorizam seu tão almejado desejo físico, o qual, ainda que abafado e criticado pela Mãe, é cenicamente visto pelos espectadores. Entretanto, o fato de Antunes ter colocado em cena esta vestimenta parece ainda mais aguçar a ideia de ausência, pulverizada ao longo do espetáculo e em diferentes chaves. Assim, ainda que transpareça o desejo d´A Segunda, carregado de volúpia, o vestido também atesta, dolorosamente, a ausência do irmão e reitera a temporalidade indefinida que ficará ali, guardado. O vestido vermelho esperará, assim como ela, o retorno ou restabelecimento do irmão, já que será apenas mais um elemento metonímico que “fantasmagoricamente” confirma a figura do ausente, com a qual ela terá de lidar pelo resto de seus dias.
O outro jogo que podemos extrair desse espetáculo é o metalinguístico. Por esse viés, as atrizes que representam essas cinco mulheres inomináveis podem estar simplesmente ensaiando, repassando as falas que reiteradamente insistem em atualizar. Em outras palavras, elas parecem atuar para si mesmas. Assim, se pensarmos no próprio jogo teatral, assistimos, ao ver a montagem de Antunes Filho, a mais um dos muitos ensaios que elas prontamente e indefinidamente representarão. Inseridas nesse jogo verbal labiríntico, elas encontram no ato constante e ininterrupto do imaginar seu porto seguro. A imaginação, a todo momento e por todas, é reivindicada, auscultada:
“esse daí, o caçula, voltando de suas guerras, eu o vi enfim e em mim nada mudou, fiquei espantada com a minha própria calma, nenhum grito como eu tinha imaginado que eu daria, que vocês dariam, nossa versão das coisas”
(A Filha Mais Velha)
“Será que eu sempre achei que ele fosse voltar exatamente, perfeitamente como ele se foi?
Será que eu sempre imaginei isso?”
(A Mãe)
“Hoje, esse irmão está de volta, como um belo guerreiro – dá pra entender – o mano está aqui e vai me levar para dançar, exatamente como na minha história”
(A Segunda)
“Eu era pequena e ninguém se importava comigo, mas eu já ouvia,
pai e filho que se odiavam,
era pequena, não contava, ninguém tomava conta de mim, me esqueciam como sempre, mas eu não vou ter nenhuma outra lembrança dessa época, eu acho, imagino que não”
(A Mais Nova)
“Eu ouvia e tinha medo também que eles não pudessem mais encontrar e se perdoar de novo, como eles sempre se perdoavam
- sempre quis imaginar que eles se perdoariam, e eles sempre acabavam se
perdoando -”
(A Mais Velha de Todas)
Essa hipótese parece ganhar força ainda na primeira cena, quando A Filha Mais Velha, em determinado momento, dirige-se à mesa e começa a ler o livro que lá se encontra. Ao abri-lo, ela acompanha a sua própria fala. É o texto da peça que está atuando que ela “lê”. Esse indício cênico, plantado por Antunes, nos convida ainda mais a participar de seu jogo teatral. Nesse sentido, Eu estava em minha casa e esperava que a chuva chegasse é um convite para pensar a arte do ator. Ou melhor, é um texto em que os atores, guiados pela indicação precisa das palavras, voltam-se para o próprio fazer teatral.
Pelo caráter ambíguo e “aberto” do texto de Lagarce, em muitos momentos, a impressão que temos é de que as cinco mulheres debruçam-se sobre a própria encenação. O modo como o dramaturgo construiu seu texto, valendo-se de alguns recursos estilísticos, como a repetição e a multiplicidade de pontos de vista sobre um assunto ou, muitas vezes, sobre uma expressão corriqueira e “banal”, fez com que Antunes Filho se debruçasse com atenção redobrada para a maneira como as palavras deveriam ser conduzidas pelas atrizes. Para ficar em um exemplo, destaco uma expressão usada pela Mais Nova, quase no fim do espetáculo (aqui já não mais segurando o ursinho de pelúcia que porta durante toda a peça, distanciando-se, momentaneamente, da ingenuidade que as outras projetam nela): “uma daquelas raivas horríveis capaz de estremecer as paredes de casa”. Ao pronunciá-la, A Mais Nova o faz usando variações. Isto é, esta simples expressão é reconfigurada nos momento em que é dita, passando, gradativamente, de uma frase trivial e corriqueira e ganhando, em seguida, um ar grave e trágico. Esse “passeio” pelas palavras atesta uma das preocupações do diretor: permitir que o espectador experimente, durante o espetáculo, uma verdadeira deambulação verbal e perceba os mais variados “matizes” que as palavras ganham, quando empregadas de forma adequada. Assim, embora nenhuma “ação” concreta ocorra no espetáculo – não há indícios da figura do filho, nem de seu quarto; não sabemos quase nada da vida dessas mulheres, sequer seus nomes – o “malabarismo” verbal de Lagarce encontra em Antunes Filho uma atualização justa, equilibrada e potente.
Enfim, em um texto dramatúrgico, como os de Lagarce, as palavras pairam como se estivessem em estado de dicionário. É precisamente essa posição que as tornam protagonistas. Esse protagonizar desafia, por sua vez, aqueles que delas se aproximam. Assim, o ator deve ter “fôlego" dobrado, física e psicologicamente, para encará-las. É esse desafio que vemos, a um só golpe, nessa montagem. O que Antunes Filho fez foi, amparando-se nos versos de Carlos Drummond de Andrade, penetrar no reino das palavras de Jean-Luc Lagarce. Diante dele, teve paciência de ler, reler, trocar, alterar, substituir, juntar, experimentar. Silenciosamente, o diretor percebeu as mais variadas voltas e rodopios que as palavras podiam dar, procurando ludibriar ou confundir quem estivesse diante delas. Dessa maneira, soube pacientemente fazer com que cada uma das atrizes traduzisse as nuances e o sabor de cada frase e palavra ditas. As palavras que conduzem esse espetáculo labiríntico guardam, graças ao modo como foram projetadas por cada uma das cinco atrizes, aliadas ao domínio corporal, estrategicamente conduzido pelo diretor, seu encanto e seu poder de construção de realidade. No caso de Lagarce, das muitas facetas da realidade que, ora sutis, ora abruptas, essas mulheres souberam manejar. O que para muitos, acostumados aos gritos e às falas apressadas e truncadas que povoam os palcos, nos dias de hoje, pode soar como certa rigidez, não passa do cuidado extremado de Antunes Filho com a palavra, material essencial não apenas do teatro, mas principalmente do ser humano. São elas que descortinam um mundo complexo, por isso convém pronunciá-las de forma precisa, despertando em quem as ouve os mais distintos sentimentos. Nesse caso, acompanhamos a angústia enlutada d’A Mãe, o desejo de união d´A Mais Velha de Todas, os devaneios e as projeções d’A Segunda, o desprezo e a desfaçatez d’A Filha Mais Velha, ao relatar seus relacionamentos, e ainda o desespero d’A Mais Nova, em ter que conviver com uma realidade excludente, que sempre a cerceou.
Ainda seguindo os versos drummondianos, Antunes Filho, diante da pergunta esfíngica que as palavras nos lança, quando delas estamos diante, sobretudo aquelas colocadas por Lagarce, foi categórico em encará-las, possibilitando, aos espectadores, vislumbrar muitas das “mil faces secretas” que carregam.
Phabulo Mendes é mestre e graduado em Letras (USP); doutorando em Artes Visuais (UNESP), onde desenvolve uma pesquisa a partir do diálogo entre literatura e artes visuais.