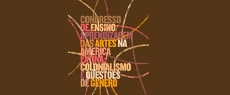Postado em
Narrativas indígenas na cidade, por Naná Ywá
O “mato” e a cidade grande, Curitiba e São Paulo, branco e indígena: desde cedo, Nana Ywá transita entre dois mundos, buscando descobrir seu próprio caminho. Foi apontando os contrastes e choques entre essas realidades diversas – do preparo do almoço no fogão a lenha até as aulas de linguística da USP – que ela viralizou no twitter, reunindo uma série de “Situações que a gente passa quando é indígena na cidade”.
Nos espaços limitados de um tweet, Naná foi traçando imagens de seu cotidiano em São Paulo, que mostram como é sentir na pele os reflexos de uma sociedade que historicamente fecha os olhos para a existência dos povos indígenas - tanto nas florestas quanto nas cidades.
Neste mês em que o Sesc promove o projeto Abril Indígena, convidamos a estudante e artista para contar e ilustrar sua realidade, desta vez sem limite de caracteres.
No texto a seguir, “o mais difícil que já escreveu”, Naná expõe algumas de suas feridas para dar voz a uma parte da sua história que nunca havia sido contada.

“Por séculos a história dos povos indígenas foi calada. Muitos elos foram perdidos nesse processo de apagamento. Mas hoje é possível ter acesso a diversas ferramentas que nos permitem contar a história de nossos antepassados a partir do nosso próprio ponto de vista. Só assim podemos preservar a real história do Brasil.”
Narrativas indígenas na cidade – quem deve contar nossas histórias?
Por Naná Ywá*
Vivi minha infância com minha avó paterna. Nesse período, acompanhei os internamentos do meu pai para curar o alcoolismo. Brincava no quintal de casa com as galinhas, com alguns poucos brinquedos que tinha, subia em árvores, ficava na casa dos vizinhos. Visitava meu pai na clínica, e às vezes, quando estava melhor, ele nos visitava em casa. Durante as férias, ia para São Paulo, ou quando minha mãe ainda morava em Curitiba, às vezes passeava com ela na cidade.
Cresci fazendo comparações inevitáveis, pois vivia em ambientes sociais muito diferentes daquele onde eu estava sendo criada. Eu tinha duas famílias distintas que me criavam ao mesmo tempo. Era uma enorme confusão para mim. Uma família não aceitava a criação que a outra me dava.
Fui muito apegada a minha avó paterna. Ela dizia que eu tinha uma “mãe preta” e uma “mãe branca”, o que gerou a primeira grande confusão que tive de enfrentar. Com o tempo, ficou claro para mim que não existe como contar nossa história sem passar por nossos ancestrais, é de onde vem toda a carga de conhecimento que carregamos. E assim, minha história também é a história da minha avó, da avó dela, do meu pai e de seus antepassados.
Minha avó paterna veio do “mato”, como ela dizia. Nunca negou suas raízes indígenas, e era especialmente comigo que compartilhava suas histórias de criação. Frequentemente adjetivos eram direcionados para minha avó como “índia braba”, “gente do mato”. Quando chegava em São Paulo, com todos os trejeitos aprendidos observando a minha avó, eu também recebia esses nomes.
Minha avó negava convites para festas e outros eventos de família, e quando eu a questionava, ela não hesitava em dizer: eles julgam o jeito que a gente come, minha filha, o jeito que a gente se veste, de onde a gente vem, o que a gente fala. Não impedia que eu fosse, mas eu a via triste e preferia não ir. A parceria com a minha avó sempre esteve acima de tudo. Era insuportável vê-la triste e eu sabia que também ia me sentir perdida se fosse sozinha.
Esse cenário ficou mais dramático quando me mudei para São Paulo e fui viver com a família da minha mãe. Saí do “fim do mundo” de Curitiba, onde só o carro do picolé passava na rua, para morar no centro de São Paulo, em uma rua onde passavam mais de cinco linhas de ônibus, com um comércio frenético e um barulho incessante.
Agora era eu, meus costumes, e eu mesma para me defender de qualquer injustiça que se dirigisse a mim. Mas eu tinha 8 anos, era quieta, “bicho do mato”, numa selva de pedra onde você precisava “garantir o seu” e ser independente o mais cedo possível.
Eu chorava constantemente porque sofria retaliações pelos meus costumes, especialmente da minha bisavó materna. Me via encurralada ao ser chamada de bicho do mato, dissimulada, sem ter para onde correr. Aos 8 anos me vi obrigada a circular de metrô sozinha numa cidade imensa e desconhecida. Chorei demais nesse dia, mas tive que engolir como um “aprendizado” para sobreviver.
Na escola também não era aceita. Meu sotaque era diferente, eu não falava muito. Não me enturmei com as crianças que queriam tirar sarro das outras. Logo, tiravam sarro de mim e de tudo aquilo que eu era.
Durante a infância até o início da minha adolescência, eu voltava para Curitiba e passava um tempo com meus avós paternos.
Antes de dormir, sempre foi costume nosso que minha avó sentasse ao pé da cama e me contasse várias histórias. No geral, ela falava como era sua vida antigamente, sobre a sua família, sobre como vivia no interior do Paraná. Também ela foi criada por sua avó, no “mato”. Ela contava da saudade de sua avó, de comer peixe na folha de bananeira, de vê-la pilar a mandioca, de dormir na rede. Sua casa era de pau a pique, já chegou a entrar onça. Às vezes o pai dela a levava para cidade, e quando ela estava com a família materna, passou por uns maus bocados, sofrendo violência da mãe, das irmãs e de outras pessoas. Na cidade conheceu meu avô, uns 20 anos mais velho que ela, filho de imigrantes alemães, vindo de um casamento recém terminado, também com uma alemã, e já tinha dois filhos. Eles não chegaram a se casar, mas tiveram meu pai.
Assim, observei a dicotomia que se estabelecia entre as famílias. Minha avó, indígena, deslocada em um casamento com um homem branco. Meu pai, filho da indígena, deslocado em uma família branca. E eu, fruto dessa união, deslocada novamente, entre uma família indígena e outra, branca.
Estava em São Paulo, quando recebi a notícia da morte de minha avó. Na mesma noite sonhei com ela – corria para abraçá-la e ela virava uma árvore. Acordei ouvindo minha bisavó chorar no telefone. Naquele momento eu já sabia o que tinha acontecido. Foi certamente uma das maiores dores que eu senti na minha vida, quando tinha acabado de completar 14 anos.
Tentaram esconder de mim ao máximo, mas desde o começo não fazia sentido para mim uma morte natural. Aos poucos eu entendi e descobri por mim mesma que minha avó havia se suicidado por enforcamento.
Continuei indo para Curitiba visitar meu pai e meu avô. . Tudo que não dava certo em minha vida era comparável ao meu pai. Tinha medo de me tornar uma pessoa como ele. Alcoólatra, dependente químico, sem estudo, sem emprego. Eu não era ele, mas a constante comparação fez com que meu pai se tornasse um fantasma pavoroso para mim.
...

Em 2015 entrei na faculdade de Letras da USP. Minha família estava muito orgulhosa de mim. Acredito que minha avó também estaria, pois eu era a primeira da parte indígena da família a entrar numa universidade. A vida universitária parecia legal por ser uma grande conquista e por se estar numa fase jovem com muitos divertimentos. Ainda assim, “interrompi” esse processo por uma série de fatores externos que me atingiam.
Já tinha noção dos meus conflitos. Já entendia um pouco do que representava a “questão indígena” da minha família e como isso havia influenciado a minha vida, a de minha avó, e como seria um fato presente até mesmo na universidade. Mesmo assim, constantemente sentia que não me encaixava nos grupos da USP, o que reavivou meus conflitos de identidade.
Tentei ter relacionamentos, e certa vez me vi em um relacionamento com um homem de família rica. A primeira vez que dormi na casa dos pais dele, me deparei com a família almoçando um banquete de comida japonesa. Nesse dia decidi ir embora. Só me veio a lembrança de minha avó falando sobre as pessoas nos julgarem pela forma que comíamos, e eu achei que nunca seria capaz de sentar numa mesa daquela. Acreditei que nunca seria capaz de manter um relacionamento como aquele e decidi terminar.
No feriado de páscoa de 2017, tive um surto de pânico em casa. Já vinha desenvolvendo sintomas da depressão e do pânico desde que entrei na universidade, e nesse dia cheguei ao meu ponto máximo. Não conseguia falar e me locomover, não conseguia pensar em nada, além de sentir medo e de ter uma grande bagunça na cabeça. Sentia que iria morrer a qualquer momento. Minha mãe me levou para o hospital, onde fui encaminhada para a psiquiatria. Passaram alguns meses até que pudesse ser estabilizada pelos remédios. Comecei uma psicoterapia.
Voltei a frequentar a faculdade, voltei a construir o Movimento Levante Indígena na USP, passei a ter relacionamentos saudáveis. Agora não existia mais “maldição de família” me perseguindo. Na verdade, posso dizer hoje que essa maldição foi fruto da sociedade que sempre levou pelo pior lado a morte do meu pai e de minha avó. Era constante ouvir das pessoas como era terrível a minha história, como os vizinhos julgavam a minha família pelo seu destino, até eu perceber que historicamente a população indígena foi tida como “amaldiçoada” pela igreja para justificar os abusos de poder sobre essas populações. Tenho certeza que eu dependi de uma força muito grande para criar minha autonomia e superar todo sofrimento que meus familiares não foram capazes de superar.
Depois de ter contado uma trágica história com um desfecho de transformação, não posso deixar de agradecer, sobretudo a minha família em São Paulo. Talvez eu tenha feito parecer que essa família foi carrasca e ruim para mim. Obviamente, passamos por diversos conflitos que ainda estão sendo resolvidos. Mas certamente eu não seria nada do que sou hoje se não fosse especialmente a minha mãe.
Não me tornei o que sou simplesmente por mérito, por meu próprio esforço. Dependi de uma família branca e com melhores condições para chegar até aqui. Da mesma forma, recebi essa oportunidade do Sesc para narrar minha história, e isso são portas abertas para mim, das quais eu nunca tive a chave.
Entendi as questões que dizem respeito a mim e a minha família indígena pelas diferenças. Pelo que falta, pelas portas fechadas.
A afirmação enquanto indígena vem da necessidade de compreender as mazelas que passamos e de dar nome aos bois. Não quero aceitar que a história da minha família seja a do sofrimento. Na verdade, se eu não falasse, minha família não teria história, não teria lugar no mundo. Por séculos a história dos povos indígenas foi calada. Muitos elos foram perdidos nesse processo de apagamento. Mas hoje é possível ter acesso a diversas ferramentas que nos permitem contar a história de nossos antepassados a partir do nosso próprio ponto de vista. Só assim podemos preservar a real história do Brasil. Esta é a justiça que hoje os jovens podem fazer por seus avós que não puderam aprender a escrever para contar suas histórias. E mesmo assim, a história se transmitiu e se preservou de forma oral. Documentá-la pela escrita, pelo audiovisual, pelas artes em geral é a ferramenta política que temos para nos inserirmos no mundo.
Para que a história dos indivíduos, das famílias, das comunidades e dos povos indígenas permaneça viva, é necessário que mais portas como essas se abram. Ninguém pode falar melhor sobre o indígena do que o próprio indígena.
* Naná Ywá é indígena urbana, nascida no Paraná e de origem Kaingang. Reside atualmente em São Paulo e cursa Letras na Universidade de São Paulo (USP). É escritora de ensaios, artigos e poesias, e artista visual dedicada à foto colagem digital.