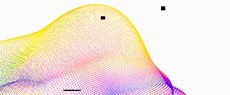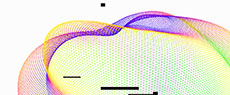Postado em
Sesc Avenida Paulista para contribuir e ajudar a curar a cidade partida
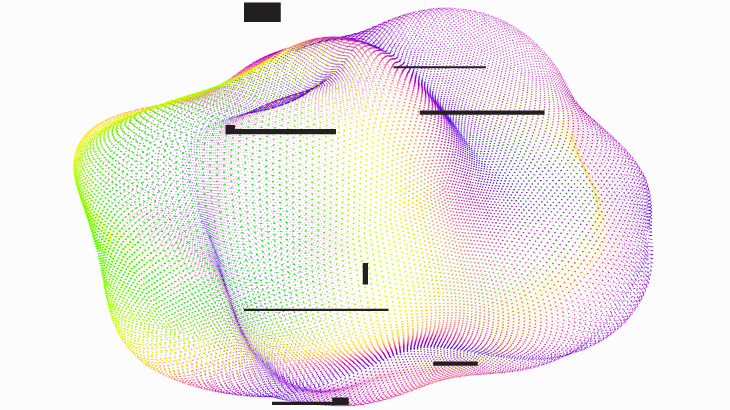
Beth Néspoli narra algumas lembranças vividas na Unidade provisória do Sesc Avenida Paulista
Eram expressões de perplexidade as que eu via no rosto de amigos ao anunciar que passaria a morar na Avenida Paulista, em meados de 2000. Parece um tempo próximo, mas essa via mudou tão radicalmente em apenas uma década que chega a ser difícil dimensionar a diferença entre o perfil cultural de hoje e o modo capital-trabalho no qual vibrava no ano de 2006, o mesmo em que o Sesc Avenida Paulista passou a abrigar teatro em suas salas.
Sim, já estavam lá há muito tempo Masp, Instituto Itaú Cultural, Teatro Popular do Sesi, a Casa das Rosas e, também, prédios residenciais, mas, ainda assim, no imaginário coletivo, a avenida pulsava no ritmo da contabilidade dos lucros da indústria e das grandes redes bancárias naqueles prédios de fachada de vidro e movimentados helipontos no topo. À noite, quando torres e luminosos se acendiam, contraditoriamente, uma atmosfera de fim de expediente tomava conta dessa parte da cidade.
Esse era o momento em que o espectador teatral entrava no Sesc Avenida Paulista, àquela época um edifício impregnado de estranha indefinição. Claramente não fora construído para abrigar arte. Seus corredores e salas de divisórias irregulares delimitavam espaços ora mínimos, ora amplos, que remetiam às salas de escritórios. Esvaziadas, porém, dessa função, produziam uma espécie de fantasmagoria da produtividade que atuava sobre a percepção, assim como a paisagem urbana que atravessava os vidros da fachada.
Tal porosidade podia ser negada ou acentuada de acordo com a proposição de cada obra. Pessoalmente, lembro-me de uma experiência que não teria vivido sem a incidência desses elementos sobre a recepção. Ocorreu em setembro de 2007, quando assistia à Canção de Mim Mesmo, trabalho vindo do Rio de Janeiro, dirigido por Alexandre Mello, uma costura de poemas diversos. Na noite em que eu estava na plateia, o público era integrado por cerca de 20 pessoas sentadas em círculo. Interativo, seria rito quase tribal, não fosse o uso da câmera a captar imagens na avenida que, projetadas em tempo real na sala, transformavam corpos, asfalto e concreto em formas abstratas sob a distorção de traços luminosos em prata e em vermelho de faróis e lanternas dos carros em movimento.
Cerca de vinte minutos depois de iniciada a sessão, um jovem espectador convidado ao centro do círculo para ouvir um poema é beijado por um ator. Visivelmente constrangido, volta ao seu lugar. Logo depois outra pessoa do público, em traje social, diz algo como “não paguei para ver isso” e sai em direção aos elevadores. Dois segundos de hesitação e um ator o segue em atitude agressiva. Num impulso, levanto e me ponho diante dele: “Ele não pode ir embora assim”, argumenta o ator. “Cabe a você ser tolerante, você é o artista”, digo. Outra pessoa do público se volta contra mim: “A mim a homofobia dele incomoda, a você não?”. E eu: “Sim, mas e aí? Vai bater nele?”
Talvez para evitar um embate na plateia, pensei eu na ocasião, o ator dá prosseguimento à sessão. E logo o “jovem beijado” ganha o centro da cena dizendo um texto. Mal termina, o rapaz que tinha ido embora volta com um poema-discurso. Só o sujeito que falara sobre homofobia era realmente um espectador. Senti-me muito tola.
Por que destacar esse fragmento de memória? O “engano” só ocorreu porque naquele teatro a presença de um espectador, digamos, desavisado e conservador não seria improvável. Esse é o ponto. Ao final, houve uma conversa, que se deu espontaneamente, sobre o acontecido envolvendo atores e público, e foram variados os pontos de vista. A lembrança dessa experiência faz pensar que, nesses tempos de sociedade dividida e ódios intensos, o teatro pode ser o território, mesmo que provisório, no qual os diferentes con-versam. Precisaria ser. E o Sesc é uma instituição capaz de reunir diversidade social e cultural em uma sala de espetáculo.
Neste texto pensado para celebrar a reabertura da unidade da Paulista teria sido possível escavar na memória muitos espetáculos ali acompanhados, poéticas que tiraram proveito da liberdade oferecida por outra característica da arquitetura: sua maleabilidade. Com os vidros vedados à luz exterior, o espaço tornava-se claustrofóbico, por exemplo, em Zona de Guerra, da Cia. Triptal, dirigido por André Garolli, e propiciava diferentes nichos de atuação às Rainha (s) Isabel Teixeira e Georgette Fadel. Na montagem em penumbra do Círculo de Giz Caucasiano, da Cia. do Latão, um telão reproduzia um debate ocorrido num assentamento do MST e atualizava a peça de Bertolt Brecht, assim como a escuridão absoluta valorizava a cena de Leitor por Horas, de Christiane Jatahy.
Não por acaso, porém, a abordagem recaiu sobre a relação com o público. O Brasil é outro. A avenida das manifestações extremas é outra. Fechada ao tráfego aos domingos, mais do que nunca atrai a multiplicidade da metrópole. É torcer para que o Sesc Avenida Paulista, em sua nova configuração, contribua e ajude a curar a cidade partida.
*Beth Néspoli é jornalista, crítica e doutora em Artes Cênicas pela Universidade de São Paulo (USP)