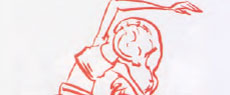Postado em
Lauro César Muniz

O nome de Lauro César Muniz se confunde com a história da teledramaturgia brasileira. Autor de peças teatrais e novelas, ele fez parte de uma geração responsável por imprimir uma identidade essencialmente nacional à narrativa para a TV.
Iniciou a carreira na extinta Excelsior, nos anos de 1960, passando também pela Record e Globo. Alguns de seus mais importantes textos – Santo Milagroso (1963), encenado no teatro e posteriormente levado para a televisão e para o cinema; Escalada (1975); O Casarão (1976); Espelho Mágico (1977); O Salvador da Pátria (1989) – promovem a discussão de problemas sociais de um país ainda em formação, preso aos ditames da ditadura militar.
O autor mantém, desde o início de sua trajetória, um forte vínculo com o processo histórico do Brasil, traço que marcou toda a sua produção, como as minisséries mais recentes, Chiquinha Gonzaga (1999) e Aquarela do Brasil (2000). Junto a Dias Gomes, Janete Clair, Cassiano Gabus Mendes, enfrentou a censura em um momento em que a telenovela conquistava o caráter popular que tem hoje, e já na década de 1970, atingia 30 milhões de espectadores.
Com a abertura política no país, em 1989, e o início do processo de globalização, a telenovela foi transformada em produto de mercado, na opinião do autor. A busca constante pela audiência faz com que se perca o caráter reflexivo de anos atrás. Em entrevista à Revista E diz estar preocupado com a qualidade da programação atual. “Os melhores autores estão escrevendo mal suas novelas”, declara. Para ele, a saída para tal situação está nos jovens escritores – a possível renovação necessária à televisão.
A geração de autores de novelas dos anos de 1960, oriunda do teatro, construiu a base da teledramaturgia brasileira. Por que acontece a migração para a televisão naquele momento?
A telenovela se fixou no Brasil em 1963. Um ano depois houve o golpe, e estava difícil fazer um teatro contundente, com preocupações políticas. Então buscávamos estabilidade financeira e sentíamos que havia a possibilidade de fazer alguma coisa de melhor qualidade na televisão.
A TV Excelsior abria as portas para gente de teatro. Fui convidado pelo ator e diretor teatral Dionísio Azevedo, que conheci nas filmagens da minha peça Santo Milagroso, para fazer telenovela na emissora. Aceitei, pois a situação estava complicada demais, e havia peças proibidas pela censura.
Fiz com o Dionísio Ninguém Crê em Mim [novela exibida pela Excelsior em 1966], baseada no mito da Electra. Um projeto ambicioso, porém a crítica reconheceu em mim alguém que trazia uma novidade – diálogos coloquiais e preocupação com uma trama mais realista.
Qual era a preocupação predominante dos autores de telenovela naquela época?
Tínhamos uma preocupação política muito forte. Havia, para nós, a tradição ligada ao teatro de Arena e Oficina, em que se privilegiava uma visão social da realidade brasileira. O que se fazia até então eram novelas adaptadas do México ou Cuba. Na minha novela também aparecia um frescor na temática.
Em 1966, coloquei Antônio Abujamra no papel de um líder sindical – a censura estava ligada, mas dava para escapar aqui e ali. Passei pela Record e lá fiz uma adaptação das Pupilas do Senhor Reitor (1970), depois Os Deuses estão Mortos (1971). Posteriormente escrevi um salto de quarenta anos na vida desses personagens – a trama tratava do crack da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, que influenciou a queda do preço do café no Brasil.
O Boni [José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, responsável durante anos pelas áreas de programação da Rede Globo] me levou pra Globo e no início comecei a fazer novelas mais leves. Tive que substituir o Bráulio Pedroso, que estava doente, na metade de O Bofe (1972). Depois fiz Carinhoso, uma novela bem água com açúcar. Nesse momento, Dias Gomes e Janete Clair já estavam na Rede Globo também, e essa turma provocou de fato uma mudança no jeito de escrever histórias.
Dias Gomes começou a fazer coisas bem importantes no horário das dez, como Bandeira 2 (1972), sobre um taxista do Rio de Janeiro ligado ao jogo do bicho. Em 1968, o grande acontecimento foi a estreia de Beto Rockfeller, projeto do Cassiano Gabus Mendes, escrita por Bráulio Pedroso.
Contava a história de um bicão que invadia a alta sociedade e que se fazia passar por uma pessoa importante. Foi esse cenário que proporcionou o surgimento de uma telenovela ligada à identidade nacional, com cara de Brasil. É muito difícil entender como se deu este processo. Claro que Boni e Daniel Filho tinham o plano de fazer novelas referentes ao universo brasileiro.
Mas havia enorme dificuldade da censura. Ao mesmo tempo, nós não queríamos fazer outro tipo de novela. Nós nos estimulamos e começamos a entrar num processo de emulação. O Dias Gomes escrevia e eu queria também. Surgiu um ambiente de disputa muito saudável entre nós, porque um estimulava o outro a se superar. Então implantamos ali uma teledramaturgia com raízes muito fortes.
Mais tarde, apareceu o Gilberto Braga. Não queríamos fazer nada que fosse sobre outra realidade. Com a proibição das peças de teatro, as novelas eram uma válvula de escape para se comunicar. Atingíamos cerca de 30 milhões de espectadores na década de 1970. Implantamos ali uma teledramaturgia com raízes muito fortes, e então nossa telenovela começou a ser reconhecida por outros países. Hoje, infelizmente, houve um grande retrocesso.
Como era a interferência da censura na televisão, em especial na teledramaturgia?
Roque Santeiro, novela de Dias Gomes, foi inteiramente proibida – e foi produzida depois, nos anos de 1980. Brigamos muito com a censura. Dialogávamos com os censores, nossos argumentos eram bons e eles eram burocratas.
Assim, conseguimos liberar algumas coisas, às vezes cedíamos em outras. Tentei colocar em cena um personagem judeu que tinha uma relação com uma não judia e fui censurado. Hoje, isso é feito à vontade. Relação entre negros e brancos não era permitido, assim como personagens homossexuais. Havia essa censura, e não conseguíamos passar por cima de tudo.
Qualquer história que tivesse como mote luta de classes era muito visada. Não eram ingênuos. Quando eles percebiam uma relação de conflito, davam um jeito de censurar e nos obrigavam a amenizar a trama. Era melhor ceder em algum aspecto do que tirar tudo do ar. Sátira sobre militares era impossível. Como não queríamos elogiá-los, era melhor ignorar.
Na teledramaturgia, governos não podiam existir, então não se falava sobre eles. Na novela Escalada, de 1975, mencionei o nome do presidente Juscelino Kubitschek e isso foi cortado. Não se podia dizer que o JK tinha sido presidente do Brasil. A novela falava sobre a construção de Brasília. Ou seja, a história do país estava sendo censurada. Na época, o JK me chamou pra jantar, passei uma noite inteira com ele discutindo isso tudo, um ano antes de sua morte.
Ao mesmo tempo, nós da TV nos colocamos em posição de resistência e dialogávamos com um público ávido por informação. Os censores percebiam esse movimento, mas muita coisa passou e de certa forma foi implantada uma teledramaturgia com uma visão calcada na história política e social do país.
Até meados dos anos de 1980, havia um estigma contra a televisão. Em especial contra a Rede Globo, devido à ideia de que a emissora apoiava o governo militar. Como os autores de telenovela reagiam às críticas?
Havia essa visão de que a Globo era conivente com a ditadura. Mas percebeu-se que os autores daquela época provocavam certo tipo de resistência. Helena Silveira, colunista sobre TV da Folha de S. Paulo, naquela época, percebia nossas intenções e nos apoiava. Houve até progressos sociais em decorrência da teledramaturgia.
Em Escalada, falava-se muito do divórcio em um período que havia uma lei incompleta, deixando os casais numa situação embaraçosa. Em 1975, discuti muito claramente o tema, e não ocorreram grandes cortes na trama, porque já se pensava na reformulação dessa lei.
O senador Nelson Carneiro trabalhava nisso no Congresso. Em 1976, conseguiram votar e aprovar o divórcio. A tática era de guerrilha mesmo. Pensávamos “de que forma vamos fazer pra passar essa ideia com a censura tão rigorosa?”. Acho que o grande sucesso da telenovela até meados de 1990 se deve muito ao fato de que dialogávamos com a sociedade. Esse afastamento que sentimos hoje ocorre devido ao retrocesso – estou perplexo com o baixíssimo nível das novelas atuais.
Janete Clair era uma das autoras de maior sucesso da Rede Globo. O dramaturgo Nelson Rodrigues dizia que Dias Gomes, marido de Janete, não era o melhor autor nem dentro de casa. Sua identificação era mais com o Dias, não?
Janete se preocupava com a trama, tinha certo maniqueísmo em suas histórias, o mocinho e o vilão. Mas ela se uniu a nós. Ela também se integrou a esse grupo, talvez por influência do Dias Gomes. Para substituir Roque Santeiro, que havia sido proibido, colocaram uma novela dela que funcionava como um tampão – a primeira colorida das oito, Pecado Capital, em 1976.
Ali tinha um teor social. Já havia personagens com raízes na sociedade brasileira. A frase maldosa do Nelson se dá porque ambos mantiveram por muito tempo uma polêmica na imprensa, vinda do teatro. A postura política do Dias era bem diferente da do Nelson. Naquela época, enxergávamos em Nelson Rodrigues uma postura alienada, bem diferente da visão que se tem hoje. Havia um enfoque político muito forte na intelectualidade, todo mundo era de esquerda; alguém que não fosse era considerado conservador. Isso no mundo inteiro, não só no Brasil.
Como eram escolhidas as temáticas das novelas?
Nós propúnhamos as temáticas. Aconteceu uma história curiosa comigo. Eu estava encarregado de fazer minha primeira novela das oito na Globo, depois de ter feito Corrida do Ouro (1973) com Gilberto Braga. Era a história de um casal que tentava conquistar pessoas da alta sociedade para subir na vida.
O Daniel Filho pegou o projeto e disse que não reconhecia na trama o mesmo empenho que havia feito em Zé Bigorna [o autor escreveu o episódio especial para o programa Caso Especial, na Rede Globo, em 1974], com Lima Duarte no papel que gerou, quinze anos depois, a novela O Salvador da Pátria (1989). Quando ouvi isso, fiquei chocado. Fui para casa e escrevi uma história com base na vida do meu pai e assim surgiu a Escalada (1975). O diálogo com o Daniel foi um ganho muito grande para mim. Dialogávamos muito e a partir daí surgiam os temas.
Dentre o universo dramatúrgico da televisão, você era o autor mais ligado à história brasileira?
Acho que há uma carência de informação por parte do público que assiste a telenovela. Naquela época, havia ainda mais com os censores. Então, sentia uma necessidade de comunicar parte da história do Brasil que estava sendo negada ao público. Se os censores vetaram o nome do Juscelino Kubitschek, imagina o que não faziam nas escolas.
Eu sentia a responsabilidade de comunicar ao público o que não estava sendo contado. Além disso, dizia respeito a minha formação, pois o meu teatro também estava ligado ao processo histórico. Não adiantava mostrar um personagem em ação, sem dizer por que ele era assim.
Na minha última novela da Record, Poder Paralelo, mostrei a realidade de um país ligado ao narcotráfico. Em Escalada escrevi sobre um homem que vive desde 1930 até aquele momento; passei a história do Brasil a limpo. Essa novela foi um marco na modificação do meu trabalho.
Você se diz preocupado com os rumos atuais da novela no Brasil. Em que momento há a perda de qualidade na teledramaturgia?
No momento da queda do muro de Berlim, com o fracasso total do socialismo. Quando esses fatos históricos ocorreram, em 1989, a sociedade tinha a ilusão, com o início da globalização, de que não haveria mais conflitos entre os países. Com a abertura política no Brasil, nós, que fazíamos uma dramaturgia política, passamos a ser mal vistos.
Estava em voga a crônica da felicidade. A telenovela tornou-se pouco crítica aos costumes sociais. Hoje, encontro uma juventude que nega a história política do país. Estão preocupados apenas com o presente. Não condeno, pois nasceram sob outra ótica.
O clima atual contamina as novelas, o teatro e a música. Na década de 1970, havia um movimento político muito forte na música, tal como o Tropicalismo, mas hoje tudo se dissolveu. O jazz é quase considerado como música erudita, para um pequeno grupo. Atualmente, as coisas valem o que custam.
Hoje, os dramaturgos fazem um teatro debochado, mais descomprometido com essa realidade. Encontramos muita contradição e alienação na internet, porque as informações estão diluídas. Mas é lógico que existem exceções em tudo isso.
Contudo, o mundo se organizou de uma forma completamente mercadológica, não existem mais ideologias. Temos que vender. Naquele momento, estávamos preocupados com a audiência, porque a Globo era absoluta, há de se considerar isso, mas não havia grande concorrência, e isso facilitava nossa dramaturgia.
Hoje há a forte presença do mercado, não?
Atualmente, a audiência dita tudo, com isso a qualidade das novelas decaiu muito. Ficaram maniqueístas, esquemáticas. Todos nós estamos mostrando uma dramaturgia de mercado. Há algo perigoso que é o processo industrial, na medida em que os capítulos das novelas se estenderam e o público tem sido bombardeado pelo cinema blockbuster.
Esse tipo de cinema que dominou o mercado influenciou as telenovelas. Prioriza-se a ação frenética e não a reflexão. Com isso, enchemos os nossos gabinetes de colaboradores – um grande mal. Virou o “fordismo” da criação.
Será que tem saída? Há vinte anos, na Globo, intuímos isso. Apresentei por escrito ao Boni um projeto para diminuir o número de capítulos das novelas – hoje com mais de duzentos. Diminuindo, o autor poderia reassumir seu papel de escritor, podendo recuperar o seu estilo. Tempos depois, meu projeto foi engavetado. Escrevi a minissérie Chiquinha Gonzaga com 38 capítulos, depois fiz Aquarela do Brasil com 68.
Se fizéssemos novelas mais curtas, faríamos algo menos industrial. Iran Silveira, diretor de dramaturgia da Record, quando me convidou para fazer novela na emissora, disse que eu poderia escrevê-la com 140 capítulos. Fui para lá atraído por essa ideia, pois naquele momento estava dialogando mal com a Globo, era muito difícil a relação com Mário Lúcio Vaz. Porém percebi que o processo era igual em ambas as emissoras. Há uma inércia no processo, ninguém quer mudar. Só que a qualidade caiu muito, os melhores autores estão escrevendo mal suas novelas – falta estilo e autoria.
“Com a proibição das peças de teatro [pela censura], as novelas eram uma válvula de escape para se comunicar”
“Quando [os censores] percebiam uma relação de conflito, davam um jeito de censurar e nos obrigavam a amenizar a história. Era melhor ceder em algum aspecto do que tirar tudo do ar”
“Naquela época, enxergávamos em Nelson Rodrigues uma postura alienada, bem diferente da visão que se tem hoje. Havia um enfoque político muito forte na intelectualidade”
“Se fizéssemos novelas mais curtas, dava para fazer algo menos industrial”