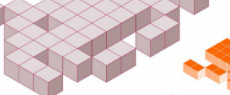Postado em
Entre dois pontos há um universo

A moça faz um biquinho, curva a silhueta para a direita, joga os cabelos para trás e fixa seu olhar para o horizonte, de forma a dar naturalidade à foto. Em sua frente, um fotógrafo deitado no chão, buscando um ângulo em que a modelo, alta, magra, branca, harmonize com o edifício histórico projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo em 1886. Mais uma equipe de maquiador, iluminador e produtor acompanham a sessão e gritam: “Linda!”
São 9h do domingo. A poucos metros de distância, os moradores de rua que estão a acordar observam a cena e são delicadamente (ou não) desviados do espectro da foto. Os cabelos devem esvoaçar e a foto tem que ter ar de movimento. Então a moça dá quatro passos, faz um biquinho, curva a silhueta para a direita, joga os cabelos para trás e fixa seu olhar para o horizonte. Faz isso uma, duas, três, quatro, vinte, cinquenta vezes. Quatro passos pra trás, quatro passos pra frente. E assim caminha pela cidade, nos seus 4 metros quadrados.
Dividem o mesmo espaço modelo, fotógrafo, iluminador, maquiador, morador de rua, cada qual exercendo seu uso sobre a cidade, usos esses que fazem desse o espaço público: cenário pra uns, casa para outros. Alguns turistas caminham pela mesma rua observando os edifícios, a modelo, os moradores de rua, os outros turistas. O guia conta que foi lá que a cidade nasceu, sob a ação de catequização dos indígenas pelos jesuítas portugueses. Logo o turista entende que lá foi a primeira construção, mas que as aldeias já existiam. Uma criança, também turista, quer entender afinal quem eram os indígenas, mas encontra poucas referências a eles, saindo de lá apenas entendendo que não usam roupa e que suas casas, que não são de tijolos, irão pelos ares se o lobo mau assoprar.
A complexidade da cidade se revela na diversidade de tramas, de poderes, de olhares. De onde se olha? O olhar do índio, do jesuíta, da criança, do turista, da modelo, da consumidora do catálogo primavera-verão 2016, do morador de rua... Para onde se olha? Para onde não se olha?
De dentro do carro, eu olho uma cidade: placa ZRZ648*, marca Ford, vermelho, ano 2012. É o carro que está à minha frente no anda, para, anda, para. Ufa, parou por mais de 2 minutos, posso olhar para os lados! Andou de novo, volto a olhar para a frente. Para olhar para os lados, agora, só se der seta. E a cidade passa, pela janela do carro, até o destino final.
De fora do carro, eu olho outras cidades: a de cima, dos lados, do chão, da frente, de trás. Ela é dura, muitas vezes inóspita, muitas vezes bela. Caminhar pela cidade tem o poder mágico de tornar visível o que não vemos todos os dias: o prédio que já está desse tamanho! – e que, apesar da surpresa, não subiu de um dia pro outro, mas sim tijolo por tijolo com olhos embotados de cimento e lágrima. As lojas novas que abriram ou fecharam. O novo piso da calçada, o vendedor de jabuticabas, o morador de rua e a modelo que posa para a foto.
Caminhar pela cidade sem se preocupar com o cartão de ponto, eis um desafio. Vaguear, estar presente, ampliar as dimensões de percepção da cidade. De repente, reconhecer na memória locais marcantes da vida e perceber que eles continuam ali, e que foi palco de outras experiências, com outras pessoas. Que aquela praça que era tão grande hoje não passa de uma ilhota. Que as leituras do espaço são múltiplas, diversas, tais como são os que habitam essa cidade.
A rua alarga o universo de descobertas, referências e encontros, mas por que a reduzimos à sua função de trajeto entre dois pontos?
Entre dois pontos há um universo. Basta desviar o lugar do olhar.
SILVIA HIRAO, bacharel em Turismo e mestre em Educação, é assistente técnica do Núcleo Gestão de Turismo Social do Sesc.