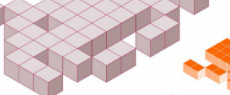Postado em
Boaventura de Sousa Santos

PROFESSOR FALA SOBRE DEMOCRACIA, PROTESTOS E OUTROS TEMAS RELACIONADOS À VIDA POLÍTICA LATINO-AMERICANA
Boaventura de Sousa Santos é professor catedrático aposentado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, diretor do Centro de Estudos Sociais da mesma universidade e coordenador científico do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa. Além disso, dirige o projeto de investigação ALICE - Espelhos estranhos, lições imprevistas: definindo para a Europa um novo modo de partilhar as experiências do mundo. É autor de O Direito dos Oprimidos (Cortez, 2014) e Se Deus Fosse um Ativista dos Direitos Humanos (Cortez, 2013), entre outros trabalhos sobre globalização, sociologia do direito, democracia e direitos humanos. Nesta entrevista, Boaventura fala sobre estes e outros temas ligados à realidade democrática da América Latina.
Como você interpreta o momento político que vivemos na democracia latino-americana, na qual se observa uma tensão entre a sociedade e seus governos?
Temos que partir do pressuposto de que as nossas democracias no continente latino-americano e no sul da Europa, a meu entender, não estão plenamente consolidadas. Muitos desses países tiveram mais tempo de ditadura do que de democracia na sua história. Posso falar de Portugal, mas poderia falar também do Brasil e de outros países. A democracia é uma conquista muito importante, e é uma conquista que tem que ser feita praticamente todos os dias. Portanto, muitos dos problemas que encontramos hoje na América Latina resultam do fato de que a institucionalidade democrática não está tão ancorada e enraizada na sociedade. Não estou falando apenas de instituições, mas também de cultura. A democracia também é uma cultura, uma cultura de argumentação, discussão, que tem seus limites. Tem, por exemplo, o limite do insulto, o limite do apelo ao golpe, das propostas que podem ir para além do golpe democrático. As nossas sociedades ainda se permitem hoje, muitas vezes, que a polarização do debate vá para além do marco daquilo que eu consideraria uma cultura democrática. Não estou falando das instituições, mas da cultura.
O que esse cenário tem a ver com o fato de as democracias latino-americanas das últimas décadas terem sido inclusivas?
Essas democracias permitiram que entrassem no debate democrático e na vida democrática muitas populações que, durante séculos, estiveram fora do processo político. Grande parte da população nem sabia o que era democracia, não participava e, portanto, estava ausente do processo. O que aconteceu no Brasil, Equador, Bolívia, Argentina e Chile é que houve uma grande inclusão de classes sociais que não estavam anteriormente integradas no processo democrático. Essa integração se deu com políticas compensatórias. Isso permitiu criar uma inclusão que gerou uma enorme expectativa de integração na sociedade e no processo político. Foi uma integração que se fez por consumo, não por cidadania. Fundamentalmente, essas políticas compensatórias permitiram que as pessoas comprassem, e se criou uma expectativa de que isso seria irreversível. O que acontece é que o modelo de desenvolvimento que temos na América Latina não permite que isso se sustente, e, portanto, estamos em um processo doloroso de passar de expectativas positivas para expectativas negativas.
Como isso tem ocorrido?
Por exemplo, uma pessoa que mudou de carro nos últimos três anos talvez não possa mudar nos próximos três. Portanto, quando as expectativas se invertem de positivas para negativas, entramos em um processo de frustração. Essa frustração, naturalmente, não quer dizer, por si mesma, convulsão social. O que acontece é que, efetivamente, hoje na América Latina encontramos esse protesto. Digamos que a inclusão dessas camadas sociais conduz a essa frustração, que se traduz por protestos, como os de 2013. Esses protestos são resultantes de expectativas que se criaram acerca de uma consolidação de um estado social que, por exemplo, aumenta o número de universidades, mas não aumenta igualmente os orçamentos e as condições dos professores e da pesquisa da universidade. Portanto, tivemos essa crise, que neste momento cria protestos, fundamentalmente porque o modelo não era sustentável.
Essas pessoas estariam, então, cobrando o que o Estado latino-americano nunca deu, uma cidadania?
Esses governos não cuidaram de como essas populações deveriam permanecer educadas. Essa cidadania exige muita informação sobre quais são os processos políticos, econômicos e sociais que estão por trás desse modelo de desenvolvimento. É como um modelo de desenvolvimento extrativista, muito ligado no acesso a recursos naturais, e que possui um ciclo de cerca de dez anos e não mais. Depois, há uma estagnação. O que aconteceu no Brasil e na Argentina foi que, tendo havido um certo crescimento econômico, esse crescimento permitiu que de alguma maneira todos melhorassem suas condições, os ricos e os pobres. Houve a ideia de que o crescimento permite dar um pouco a todos.
E quanto à educação? Esse seria um modelo alternativo ou complementar a essa ideia da inclusão?
Inclui na medida em que a educação é, em si mesma, um próprio capital de investimento social de primeira grandeza. Por exemplo, o modelo da Coreia, China e Japão é basicamente a educação avançada que permite grandes níveis de pesquisa como o que vemos hoje lá e que há dez anos seria quase impensável. A China, este ano, tem cerca de 1 milhão de bolsistas na Europa e nos Estados Unidos. Foi um grande investimento na educação. Os países ocidentais, em geral, nunca foram consistentemente tão decididos no investimento em educação quanto os países asiáticos. Eles dedicam muito mais do PIB a isso do que nós. Nos últimos 15 anos, o Brasil teve dois desenvolvimentos importantes. Um foi inclusão intercultural, que democratizou o sistema universitário. O outro foi a ampliação do sistema público, o que foi obviamente importante, mas foi um investimento que precisaria de uma continuação, com valorização do pessoal científico e técnico dessa universidade.
Como estrangeiro, como você analisa a reação tão grande que ocorreu em relação às ações afirmativas nas universidades brasileiras?
Existe uma tradição oligárquica vinda do período colonialista que nunca foi curada. Há uma cultura oligárquica racista no Brasil. Muito do conflito político não é apenas preconceito de classe, mas também racial. Isso, para mim, é o grande motivo que depois foi disfarçado com a ideia da meritocracia, que quer critérios iguais para todos. O que acontece é que em uma democracia, mesmo em uma democracia liberal, há a ideia de igualdade de oportunidades. O que nós temos que convir é que muitas pessoas, pela cor de pele, não tiveram a mesma igualdade de oportunidades, foram vítimas de racismo, marginalização. Há quem diga que no Brasil não há racismo, há diferença de classes, mas, dos pobres brasileiros, 95% são negros. As cotas foram feitas para criar igualdade de oportunidades. E hoje eles são bons estudantes, não estão ali por favor, eles não tinham a oportunidade de entrar. Nos Estados Unidos hoje também há uma onda contra as ações afirmativas, mas elas permitiram uma democratização do ensino na sociedade americana quando foram introduzidas. Portanto, penso que é uma medida totalmente recomendável. A maneira como ela é tratada por vezes no Brasil mostra que há um preconceito de classe racial que é muito difícil, mesmo para nós sociólogos, porque mistura classe com raça. A maneira como certas pessoas se referem a isso não é apenas o rico versus o pobre, ou o branco descendente de europeu versus negros. É um preconceito que continua vigente na sociedade, apesar da miscigenação.
Nos últimos dois anos, temos visto uma mobilização nas ruas que poucas vezes aconteceu no Brasil. Como você vê o aguçamento político no país?
Junho de 2013 é muito curioso de analisar. É evidente que esses movimentos surgem claramente dizendo respeito às expectativas que não se cumpriram. As pessoas, impacientes com o que as instituições não lhes dão, vão para a rua. Também tivemos isso nos Estados Unidos, na Espanha, na Grécia. As instituições estão lá, mas não exercem as funções. Parece, portanto, que ela tem a ver inicialmente com um eixo de reivindicação de direitos sociais democráticos, com o estancamento da social-democracia. Há uma especificidade brasileira. Junho de 2013 surge como um movimento relacionado ao passe livre, a algo da esquerda, e dois ou três
dias depois, no Twitter, quem domina é a direita. Nós vemos, em poucos dias, que o perfil de uma mobilização muda da esquerda para a direita. Foi surpreendente observar como algo que tinha um certo perfil de reivindicação social vira uma reivindicação da direita contra o governo. Naquela altura, não era tanto a corrupção, que é algo que vem de longa data. É um ressentimento de classe que, a meu ver, vinha desde 2003. Um ressentimento contra uma classe política que se ampliou e que, quando chegou ao poder, acabou se comportando como as velhas classes políticas. Isto é, foram cooptadas. A minha ideia é que entra uma nova classe política que quer fazer uma coisa diferente à maneira antiga. E, como essa é uma classe política que, em uma sociedade oligárquica, é vista como uma classe que nunca deveria lá ter chegado, sofre uma punição muito maior.
Essa decepção e frustração a que você se refere pode ser considerada civilizatória e construtiva, por levar a uma autocrítica?
Há uma variável importante, que é o peso da institucionalidade, ou seja, até que ponto a institucionalidade aguenta a controvérsia, a reprovação, a agitação e o protesto. O Brasil criou uma institucionalidade. O sistema de justiça pode ser conservador, mas funciona e tem prestígio social, e a diferença é ver até quando a institucionalidade aguenta. Nós, que queremos que a democracia subsista e se aprofunde, podemos pensar que esta crise pode ser extremamente enriquecedora, se ela levar a um aprofundamento da democracia.
Como pode ocorrer esse aprofundamento?
Para mim, a primeira condição é que não haja financiamento privado de partidos. Enquanto houver financiamento privado de partidos você não tem uma democracia. Há muito dinheiro privado que circula e que está a permitir uma degradação da qualidade da classe política. Isso preocupa. Outro ponto a ser levado em conta é que o Occupy, o movimento dos Indignados na Espanha e a Primavera Árabe são três genealogias, com agendas diferentes. Portanto, acho que estamos a entrar no período que eu chamo extrainstitucional. Nós vamos passar mais algum tempo em que as instituições vão estar ao lado de movimentos extrainstitucionais, ou seja, vamos ter rua e vamos ter parlamentos, mas a rua vai continuar, porque não acredito que nesta fase seja possível que as instituições cubram todo o descontentamento social. Portanto, vão continuar acontecendo protestos, e isso é muito positivo, desde que a institucionalidade aguente.
Como você entende o crescimento de religiões como a evangélica no Brasil?
Esta é quase a pergunta de milhões, mas podemos ter pistas se olharmos para os programas da igreja universal. Eu, como sociólogo, assisto a esses programas. Quem cuida dos marginalizados, que não têm direitos? A primeira parte dos programas é sempre sobre essa gente. Não vejo nenhum partido e nenhum movimento cuidando dessa gente. Portanto, há na nossa sociedade aquilo que chamo de exclusões abissais. Ninguém cuida dessa gente e esse espaço foi ocupado pelas religiões evangélicas.
Podemos perceber, hoje, uma presença forte do Estado na vida das pessoas, em nome do bem. Isso aparece, por exemplo, na questão do cigarro, em que o Estado protege as pessoas que não fumam. O que você acha dessas leis que, em nome do bem, vão entrando cada vez mais dentro das liberdades individuais?
O Estado, a partir do século 19, procura substituir o poder jurídico pelo poder disciplinar, e o poder disciplinar é o poder que vai criar um sujeito na medida da dominação do próprio Estado. Ou seja, o sujeito tem que ser obediente ao Estado e à ordem social que se vai criar. Mas é óbvio que essa confirmação da política social não foi ingênua, para que houvesse uma liberdade total de educação. A educação surgiu para criar um projeto nacional, para que os brasileiros se sentissem brasileiros, para que os portugueses se sentissem portugueses. Portanto, houve todo um modelo para fazer com que os cidadãos tivessem certa configuração. Com o tempo, essa configuração entrou na subjetividade, e, portanto, se pensou que o Estado poderia também controlar a vida subjetiva das pessoas. Em um Estado em que as políticas são públicas, a explicação é fácil. Se fica provado que o tabaco é prejudicial para à saúde, o Estado, ao proibir o tabaco, está a defender o sistema nacional de saúde, porque obviamente vão ter menos embargos. Nos Estados Unidos, por exemplo, são as companhias de seguro que estão na luta contra o tabaco, porque, quanto menos apólices se pagam por causa de doenças, melhor é para a empresa. O sistema público e privado controla a subjetividade.