Postado em
Aline Bei
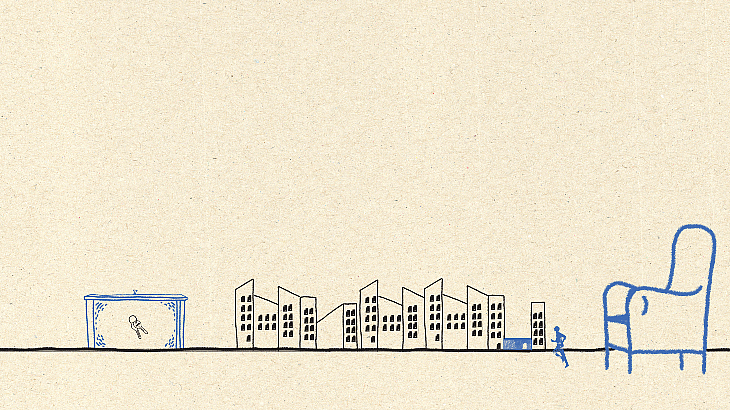
ANTÔNIO
sentir pena de algo é enxergar no outro uma miséria que é tua, meu pai dizia
e agora que ele se foi eu morri
nas pernas, ele que me fazia correr pelo bairro
corpo parado é corpo alvo de doenças do espírito.
nessas corridas, ele gostava de conferir se as casas que não viraram prédio seguiam resistindo como a dele, a mesma que estou agora
enquanto empacoto a multidão de objetos que um morto sempre deixa para trás.
aqui, (pega o taco) neste piso solto de madeira cósmica
reencontro não só a criança que fui
mas também o seu tropeço
que em hora desconhecida perderá os seus vapores
em silêncio, exatamente como as luzes dos fogos de artifício.
meu pai adorava essa casa, se sentava
naquela cadeira azul.
bebia seus vinhos de garrafa densa, nunca me contou de onde tirava aquilo, talvez do fundo
de um navio pirata.
ele enchia o copo, o mesmo do pingado
e me dizia
numa mistura de santo, sambista e filósofo
da sensação de pertencimento que ele lia na boca dos meus primeiros anos
ou de um urso que eu tive chamado Antônio
e que adoeceu, o fiz adoecer de não sei qual enfermidade
só para cuidar dele
como o meu pai cuidava de mim.
não me tornei médica.
nem sou particularmente feliz ao chegar em casa, tirar o meu casaco
e vislumbrar a palidez dos meus olhos enquanto guardo as chaves
na gaveta.
quando morre um pai (encaixa o taco no vão sem piso)
eis o aviso que faltava a respeito da nossa própria morte
um aviso que começa quando você nasce
e que te envolve os ombros quando você tem um filho.
um corpo pode ser uma pedra por anos
pode ser um muro
por longos anos
um corpo pode ser a ponte, pode ser a festa e assim atravessar metade de um século, mas
um corpo não é interminável
um corpo é um corre perigo
o corpo do meu pai – fina luz no vão da porta – escapou
por 75 anos
até que uma gripe se misturou com o frio que ele guardava no peito quando corria as suas manhãs sem blusa. eu também posso morrer disso. posso ser atropelada, posso
me afogar em uma nuvem, morrer de éter, mas por enquanto é o meu pai quem acabou no agora e isto sim é interminável, essa manhã de 84 horas pela casa que é meu pai nos azulejos é meu pai no banheiro fazendo a barba é a sombra
do meu pai menino
fingindo não me ver atrás da porta, é meu pai
atrás da porta
com os seus pés largos
e os seus pontos brancos no canto da boca, o que é isso?
neve, você não sabia? que hálito é feito de neve?
e o olho?
de ovo.
e o cabelo?
eletricidade. não acredita? pois faça um teste, vá
para a frente da televisão.
viu? os Titãs estão te querendo
lá dentro da tela.
ah, o mundo! que você me mostrou, pai, você que nunca teve ciúmes das suas pequenas sensações, ao contrário, você as cantava em qualquer esquina, era terno com as coisas à sua volta, sabia que o ressentimento era líquido
e se você não guardasse o sulco
em um vidro
ele se espalharia pelo corpo
amarrando o voo, devorando frestas.
quando lembro que você não está mais aqui
meu vidro se abre, pai, e se por um instante eu me distraio do meu luto
é porque a sua presença tinha tamanha fibra que ela borra até o seu desaparecimento e
não me diga que não adianta venerar um morto, sei que tampouco adianta venerar um vivo
tudo o que fazemos, o fazemos por nós.
desejo que os seus ossos, pai, tenham encontrado uma boa posição para nutrir a Terra. e que os vermes, ao se alimentarem de sua carne, possam incorporar as suas virtudes
e os que tem asas
que espalhem
o sal desse velho homem pelo mundo
ele que me deu
uma infância de pertencimentos
para que eu assista – cinema no cérebro – o que há de mais fronteiriço com a felicidade
enquanto corro
pelo bairro
morta de pena dos cães.














