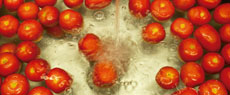Postado em
Molar

– Política – disse uma delas, a mais velha, e sua voz ciciante se confundiu com o farfalhar do jornal que dobrava com cuidado, caderno por caderno, as folhas espalhadas na cadeira ao lado pouco a pouco reordenadas e encaixadas e colocadas a um canto da mesa, junto ao copo com um restinho de conhaque. Sentado à mesa vizinha, Américo ouvia a conversa das duas desde que chegara ali, uns vinte minutos antes.
– Quando foi que o Brasil não ferrou com a gente? – disse a outra, duas ou três décadas mais jovem, a voz esganiçada raspando o ambiente feito uma lixa; falava de forma displicente, como se não tivesse nada a ver com o que saía da própria boca.
– Houve um tempo.
– Quando?
– Houve um tempo – a mais velha repetiu e terminou de encaixar as últimas páginas, e então, virando-se, pegou o jornal, colocou-o na cadeira vizinha, puxou o primeiro caderno, abriu e começou a percorrer a primeira página com os olhos.
– Vai ler tudo outra vez, tia?
– Só dei uma olhada assim pelo alto. Agora vou ler o que me interessa.
– Ah. É o seu processo?
– Tudo é um processo.
A sobrinha suspirou, depois olhou para o celular que estava sobre a mesa. – A que horas é o voo mesmo?
– É a quinta vez que você me pergunta.
– E é a oitava vez que eu esqueço.
A senhora está no lucro.
– Às vinte. Não sei se entendi esse editorial – investia agora contra a página dois, óculos na ponta do nariz e a cabeça meio inclinada para trás.
– Quem se importa com editoriais?
– Eu.
– Bom, nesse caso...
– É sobre as eleições. Em cima do muro.
– Melhor subir no muro que no telhado.
– Quem disse?
– Moi.
– A propósito, em quem você votou no domingo?
– Nulo.
– Eu jamais anularia o meu voto.
– Quem levou o coice? Acho que é a única coisa que eu vou lembrar dessas eleições.
– Foi o vice-presidente eleito.
– Morreu?
– Não, se foi eleito...
– Aleijado?
– Hospitalizado, mas inteiro.
Alguém aumentara o volume do som ambiente. Sail Away, Randy Newman, o barman cantarolando enquanto enxugava uns copos. Além das duas mulheres e de Américo, só havia um casal de idosos no lugar, sentado ao balcão, olhos fixos em seus respectivos celulares.
– Que tara é essa que militar tem por cavalo? – a sobrinha perguntou.
– São animais formidáveis.
– Os militares?
Uma risada discreta, seguida por mais um longo intervalo farfalhante. Chegava ao final do segundo caderno. – Putin.
– Palmirinha – disse a outra, e tomou mais um gole.
De costas para a mesa em que elas estavam, Américo via as duas mulheres pelo reflexo no enorme espelho da parede à frente. E via a si mesmo: palidez ressaltada pelos óculos escuros, cabelos desgrenhados, terno amarfanhado. Era o oposto das vizinhas: alinhadas, impecáveis. A mais velha era pequena, mas sólida, os cabelos brancos e curtos penteados de lado, e usava um tailleur de uma cor que ele não saberia nomear. A outra, de camisa branca e blazer feminino verde-escuro, cabelos pretos e cacheados, era rechonchuda e sustentava uma expressão desligada; efeito do vinho?
– Se ele tivesse morrido – disse a sobrinha, ainda se referindo ao vice-presidente –, o cavalo talvez pudesse assumir no lugar dele.
A velha sorriu. – Incitatus.
– Oi?
– Incitatus. Calígula nomeou o próprio cavalo senador. Ou quis fazer dele um cônsul, não me lembro.
– Não me venha com Calígula numa hora dessas, tia.
– E a sua geração sabe quem foi Calígula?
– Bom, a minha geração viu o filme.
– Que film... ah, mas que...
As duas riram outra vez. Ele também vira o filme. Qual era o nome daquele ator? Não era o cara de M.A.S.H.? Não, não, aquele era o pai do Jack Bauer.
– ... e a minha mãe quase flagrou a gente.
– Ela sabia o que vocês estavam fazendo, só não quis constrangê-los.
– Boa mulher.
– Sonhei com ela na noite passada.
– Eu quero saber?
– Estávamos em Brasília.
– Engraçado.
– O quê?
– Toda vez que sonho com ela, estamos em Brasília. Será que é porque foi enterrada lá?
– Como assim?
– Talvez a pessoa não possa se afastar do corpo nem depois de morrer. Tem que ficar mais ou menos na mesma área.
– Por quê? Morrer não se trata exatamente disso? Que ideia. Eu quero distância dessa carcaça depois que morrer. Que apodreça bem longe de mim.
– Amém.
– Mas, se for como você está dizendo, a gente vai exumá-la assim que possível e enterrar em outra cidade. Imagina só, não poder sair de Brasília nem depois de morrer.
– A senhora sabe que ela adorava Brasília, tia.
– A cidade estava em ruínas.
– Oi?
– No meu sonho.
– Quem bombardeou?
– Como é que eu vou saber? Só sei que eu e sua mãe estávamos lá.
– Fazendo?
– Nada. Andando. Não se via mais ninguém. Estávamos bem assustadas.
– Mas vocês procuravam alguém?
– Não me lembro. Depois eu estava dentro de um prédio no Setor Comercial Sul. Aquele prédio defronte ao shopping. Era um cômodo pequeno, uma dessas salas apertadas... vazava água pelas paredes.
– E a minha mãe?
– Não estava mais comigo, e isso me angustiava. Eu sentia medo por estar sozinha ali dentro, mas não tinha coragem de sair. Então vi a sua mãe lá fora, atravessando a W3. A rua estava destruída, cheia de entulhos. Comecei a bater na janela, a acenar, mas sua mãe não olhava na minha direção. Parecia perdida. Eu tentava gritar, mas a voz não saía. Ela ali parada no meio da rua. Uma sirene começou a tocar.
– E depois?
– O sonho virou outra coisa.
– O quê?
– Só me lembro de estar na fazenda, no alpendre. Sentada no chão feito uma criança, mas com a idade que eu tenho hoje. Meu avô veio e afagou a minha cabeça, depois olhou para fora, espantado. Eu me levantei e olhei também. Tudo tinha desaparecido. A plantação, a estrada, as árvores, tudo. Não se via mais nada. Meu avô olhou para mim e abriu um sorriso sem graça, depois enfiou a mão no bolso e eu achei que ele fosse pegar umas balinhas, ele sempre dava balinhas para nós quando éramos pequenas, andava com os bolsos cheios delas. Estendi as duas mãos, como sempre fazia quando era pequena. Ele ainda sorria daquele jeito sem graça quando tirou a mão do bolso e colocou alguma coisa nas minhas palmas. Olhei e era um dente.
– Um dente humano?
– Um molar. Meu avô fez aquele gesto para que eu colocasse na boca, como fazia com as balinhas. Eu não queria, mas ele insistiu, fechou a cara, vamos, menina, põe isso na boca, anda logo. Comecei a levar a mão até a boca. Devagarinho, porque sentia muito nojo, mas acordei antes.
As duas se calaram. A sobrinha bebeu um gole de vinho, a taça quase vazia. A tia voltou a se concentrar no jornal. Américo ajeitou os óculos escuros e olhou para o copo de cerveja ainda pela metade.
– Não sei o que esperar dessa mulher – disse a velha.
– Qual?
– Essa que elegeram.
– Eu espero sempre o pior.
– Boa estratégia.
– Política – resmungou a sobrinha e, vendo a taça quase vazia, acenou para o garçom.