Postado em
A arte de lecionar
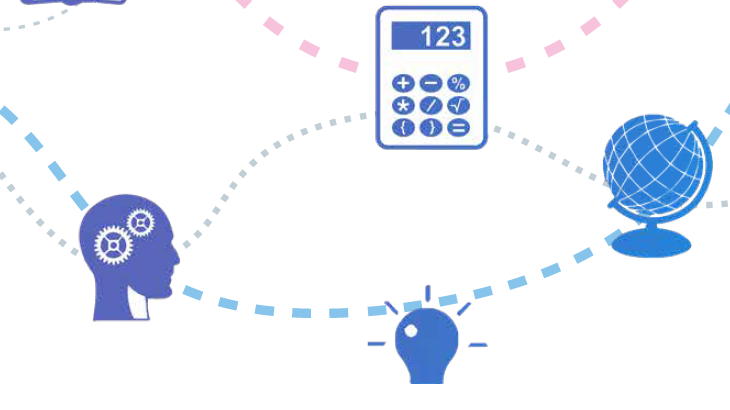
Como é dar aula na universidade? Organizado por Denilson Cordeiro e Joaci Pereira Furtado, Arte da Aula (Edições Sesc São Paulo, 2019) propõe um espaço de memória e reflexão de professoras e professores cujas trajetórias se confundem com o campo da filosofia e das humanidades no Brasil. Ao todo, dez depoimentos nos convidam a acompanhar as experiências de grandes mestres e mestras das universidades públicas estaduais de São Paulo. Como pensam, constroem, refletem e consideram o lugar da aula? “A aula, segundo todos eles nos ensinaram a considerá-la, é (ou deveria ser sempre) um ato de libertação de quem a acompanha – portanto, trata-se de um gesto ético, de oferecer subsídios, conhecimentos, domínio de técnicas, valores, princípios e espaços para a reflexão, lastros sem os quais não é possível discernir e, por isso, escolher com alguma margem de liberdade e de responsabilidade”, descrevem Cordeiro e Pereira na apresentação do livro. Os organizadores de Arte da Aula ainda explicam que a escolha dos nomes que compõem a publicação considerou, sobretudo, “um aspecto que nos parece central: a aula é, por definição, o espaço em que as humanidades exercitam – ou exercitavam, até bem pouco tempo – o ‘trabalho do pensamento’”.
Para este Em Pauta, foram selecionados excertos dos textos de Alcir Pécora, professor do Departamento de Teoria Literária da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e Ataliba de Castilho, ex-professor de Língua Portuguesa na Universidade Estadual Paulista (Unesp-Marília), do Departamento de Linguística da Unicamp e de Filologia e Língua Portuguesa na Universidade de São Paulo (USP). Depoimentos que buscam dar subsídios a professores e professoras do presente e do futuro.
Exercício coletivo
Alcir Pécora
Não consigo me lembrar de minha primeira aula como professor universitário. Lembro-me das circunstâncias apenas. Porque a minha primeira aula, como professor universitário, deve ter sido como monitor do Haquira Osakabe, professor de análise do discurso, do Departamento de Linguística. Então, com certeza, foi alguma aula em torno desse assunto. Mas não tenho nenhuma ideia exata, de um dia especial, nenhuma sensação duradoura...
O frio na barriga existiu sempre. Não chego mais a ter frio na barriga, mas um certo incômodo, sempre – a cada vez que entro em sala, a cada nova matéria. Nunca me senti completamente à vontade nas aulas. Mas, claro, naquele período eu devia mesmo ter frio na barriga: era muito novo. Fui contratado como monitor da Unicamp em março de 1975. Ou seja, tinha 20 anos.
Era mais novo do que boa parte dos alunos, que entravam mais tarde do que hoje na universidade. Mas também não me lembro de sentir grandes problemas com isso. Talvez tenha sido apenas inconsequente. Estava ainda no terceiro ano da graduação. Acho que nem cheguei a ter uma noção exata do que estava fazendo ali. Mas sei que, dois anos depois, em 1977, fui efetivado como docente do Departamento de Teoria Literária e comecei a dar aula no chamado ciclo básico.
Dava aula de redação, basicamente, para todas as áreas da universidade, numa disciplina com um nome mais pomposo: Prática de Produção de Textos. Eram classes grandes. Acho que nunca foi confortável dar aulas. Estou lhe falando mais pelo que imagino hoje do que pelo que realmente senti na época, porque, como lhe disse, em termos concretos, não me lembro de nenhuma preocupação particular minha.
A ideia de dar aula na universidade talvez não tivesse o peso que tem hoje. Eu tinha mais uma ideia de discutir os livros que estava lendo, aquele entusiasmo de participar de uma universidade nova, não de ser professor, exatamente. Também não me lembro de alguma aula especialmente marcante que eu tivesse dado. Nunca me impressionei com nenhuma que eu mesmo desse. Algumas vezes, senti que a aula foi má – até meio frequentemente, isso. Mas também não me lembro de uma que foi tão horrível a ponto de me lembrar ainda hoje do desastre.
Da sala ao corredor
Me lembro, sim, de várias aulas interessantes, talvez mais pelas circunstâncias. Certa vez, por exemplo, os alunos estavam em greve, e um grupo do comando de greve estava impedindo que as aulas fossem dadas, com piquete, barricada na porta das salas etc. O normal, você sabe. E era um curso sobre o La Rochefoucauld, um autor aristocrático, com aforismas cortantes, terríveis, que não permitem nenhuma ilusão sobre nada.
Você sabe, ele viveu aquele momento de uma aristocracia já um pouco banida de Versalhes. O rei atuava fundamentalmente de forma a fortalecer o governo central e desqualificar as forças tradicionais concorrentes dele. Então, os aristocratas, atacados sistematicamente, perdendo antigos privilégios, fortunas, filhos e parentes nas guerras internas, enlouqueceram um pouco.
Essa geração é muito interessante, a dessa alta aristocracia que fez os levantes da chamada Fronda, e que, desalojada de suas terras, ficava ali, por Paris, fazendo barricadas, misturando-se com a canalha da cidade, participando de guerras contra o rei – que eles perderam, quase todas. Essas máximas de La Rochefoucauld são tremendas, no sentido de um desengano radical. Não é à toa que Nietzsche o lia.
Sabe o Filosofia a Golpes de Martelo? Para mim, é um título estritamente rochefoucauldiano. Então, o curso era sobre as máximas e havia aquele impedimento de dar aula por parte de um grupo, mas acontece que boa parte da classe queria a aula. Acho que estava meio masoquisticamente ligada nas porradas de La Rochefoucauld.
Toda aula era um desmonte, em todos os campos: amor, casamento, família, política, carreira etc. Era anunciar o tema e lá vinha a demolição. Enfim, os alunos queriam porque queriam aula. E os que lideravam o piquete acabaram percebendo o impasse e me propuseram que desse a aula, mas não na sala de aula, e sim no corredor, e que fosse entendida não como aula, mas como atividade de greve.
Por mim, tanto fazia se me davam esse protocolo simbólico. Se me permitiam dar aula, no corredor ou não, e se havia aluno querendo assistir a ela, por mim, estava bem. Só deixei claro que não permitiria que a aula tomasse outra direção, saísse de seu assunto próprio para tornar-se instrumento de proselitismo. Eles concordaram e, afinal, correu tudo muito bem. Dei a aula no corredor. Vieram muitos alunos de outras classes e cursos, todos muito atentos e respeitosos.
Era uma aula bem normal até, mas também ficou com uma cara de happening: todo mundo ali, no corredor, sentado ou deitado, prestando muita atenção. E tudo com La Rochefoucauld falando as piores coisas para rapazes idealistas. Então, essa foi uma aula de que me lembro bem, porque foi engraçado dar aula no corredor e, também, pela força da exigência inesperada dos alunos que queriam aulas.
Sem fronteiras
Outra aula de que me lembro ainda hoje aconteceu bem no início de meu período de docente, quando dava aula de redação no básico, entre 1977 e 1979. Teve uma vez que bolei um exercício em que os alunos deviam completar uma frase inicial que escrevi na lousa, a cada vez tendo de reforçar o argumento anterior. Eram aulas em geral associadas à construção e discussão de provas discursivas, e eu costumava dividir a turma entre os que deviam ser contra e os que tinham de ser a favor de determinada questão, tomando por base exercícios retóricos tradicionais.
Enfim, o caso é que escrevi a frase inicial, e pedia para que, um a um, os alunos fossem à lousa, pegassem o giz e tentassem desenvolvê-la, numa ou noutra direção. Um aluno vinha, escrevia outra frase, vinha um outro tentando reforçar ou contradizer o que o outro tinha escrito, e assim por diante. Aí, foram escrevendo e, num determinado momento, a frase já tinha tomado toda a lousa, e eles continuaram a escrever fora dela. E, assim, a frase foi atravessando aquela sala imensa do básico, em forma de auditório.
A frase foi subindo em direção à porta, acabou saindo da sala e começou a rodar pelo lado de fora do prédio do básico. A ideia não foi minha, não pensei que aquilo poderia tomar aquela forma, mas eu também comecei a me divertir com aquilo e deixei rolar. Fomos todos para fora da sala, acompanhar até onde ia aquele serpenteio da frase em torno do prédio. A certa altura, deu o sinal de fim de aula e eu, claro, dei a aula por encerrada.
Nem sei se o pessoal continuou escrevendo; talvez tenha continuado, mas eu fui embora. Vejam, foi uma aula interessante, mas o que me fez lembrar dela, até hoje, não foi o que eu fiz, mas o que a classe fez. Acho que um pouco como no outro caso. Curioso: percebo agora que, nos dois casos que me vieram à cabeça, acabamos saindo da classe... Que sentido terá isso? Algum há de ter.
Alcir Pécora, professor do Departamento de Teoria Literária da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); autor de Máquina de Gêneros (Edusp, 2001), entre outros livros.
Confira aqui um trecho do livro:
Investigação do saber
Ataliba de Castilho
Quando a gente começa a dar aulas, acaba imitando um bom professor que teve na universidade. Depois é que adquirimos voo próprio. As primeiras aulas universitárias que dei em minha carreira foram na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília, que era um instituto isolado de ensino superior.
Eu tinha 25 anos, estava licenciado em Letras Clássicas e Vernáculas, e tinha cursado a especialização. Então, como dava aulas em Marília? Eu me lembrava de como fazia o professor Maurer Jr., que era um romanista muito importante da Universidade de São Paulo, posteriormente meu orientador de doutoramento. Ele preparava muito bem as aulas. Ele lia o que havia de essencial sobre o assunto, e acrescentava a isso as conclusões de suas pesquisas. Sua Gramática do Latim Vulgar – indispensável para quem quer saber como surgiram as línguas românicas – até hoje não foi superada. Então, transmitia tudo aquilo em forma de conferência. Ou seja, você não tinha muita participação no tema. Acho mesmo que nem poderíamos ter, pois, até então, nada sabíamos sobre o assunto. E achava que era bem suficiente lecionar dessa forma.
Então, quando fui para Marília, cada aula era previamente escrita. Para isso, eu lia o que era disponível na literatura. Naquele tempo, uma boa aula era transmitir conhecimento organizado. Depois vi que não era só isso. Portanto, eu fazia as leituras, anotava e dava as aulas lendo as anotações, para não esquecer algum argumento importante. Todo ano eu refazia aquelas anotações, porque sempre lia mais coisas. E ia passando aquilo para os alunos. Depois, montava exercícios para eles fazerem, para ver se tinham entendido bem. E eles tinham de escrever também alguns textos, ao longo do curso, pesquisando temas de seu interesse. Assim foram essas minhas primeiras aulas.
Hoje, acho que devem ter sido bem chatas. Porque era um discurso, era uma conferência. E como o aluno não estava previamente preparado, pois não sabia em que textos a aula ia se basear, não tinha como fazer boas perguntas. A não ser se provocado por alguma coisa que eu dizia. Acho, hoje, que aquelas aulas não eram muito produtivas. (...)
Distanciamento X aproximação
Se considero a aula como um momento importante de formação do estudante? Desde que você associe essa aula a algum trabalho que ele venha a fazer, sim. Ou seja, ele deve ser informado sobre o que se sabe, e motivado a descobrir o que não se sabe. Ele deve ser o linguista dele mesmo. Ou, como eu escrevi naquela gramática [Nova Gramática do Português Brasileiro, Editora Contexto, 2010], que ele seja o gramático dele mesmo.
Acho que a aula só é importante se ela tiver esse – não é nem apêndice – outro momento, em que o professor fala o que se sabe, fala o que não se sabe e o aluno vai atrás do que não se sabe. E não se sabem muitas coisas, ainda. Quanto mais você lê, mais você se dá conta das limitações da ciência. Então, é hora de envolver o aluno nisso. (...)
Daquele momento em diante, seu aluno não é um mero ouvinte, que fica lá naquele tédio, ouvindo respostas a perguntas que não formulou. Não estou dizendo que o aluno deve falar na aula de um modo descontrolado. Também não é assim, uma falação por falar. Isso, não. Porque há muita demagogia nessa história de pôr os alunos para falar, sem orientar.
O professor é o líder naquela sala, ele estudou, se preparou. Ele não pode abrir mão disso apenas para se fazer mais simpático para os alunos. Ele tem um dever, ele tem uma obrigação. Ele deve cumprir essa obrigação envolvendo o aluno, nunca o afastando. Porque antigamente havia professores muito estranhos. Tive uns aqui na USP muito estranhos.
Eu me lembro de um que, uma vez, um aluno lhe fez uma pergunta e ele não sabia a resposta. Visivelmente, ele não sabia. Ele podia dizer, com franqueza: “Olha, não sou uma enciclopédia, não sei tudo. Mas vou estudar e lhe falo. Aliás, se quiser estudar comigo, vamos ler sobre esse assunto”. Mas não. Sabe o que ele falou? Falou assim: “Quem é você?” E era um rapaz muito estudioso. “Sou seu aluno, matriculado nesta disciplina.” “Não é, não. Nunca vi você aqui. Fora! E quando você voltar, traga um documento da secretaria dizendo que, sim, você é meu aluno.” Olha que solução burocrática que esse tantã deu! Aquilo me marcou muito.
Aí, esse aluno – que, depois, virou um professor de Filosofia, dos melhores, pois era muito inteligente – veio com o atestado. “Tudo bem. Então, você é meu aluno. Mas está proibido de assistir às minhas aulas. No fim do ano” – os cursos eram anuais – “você faz a prova e procure verificar o que eu dei. E você faz a prova. E assim vai ser.” E ele reprovava sistematicamente o cara. Todos os anos o diretor tinha de nomear uma banca especial. Já pensou, que desperdício de oportunidade?
Questionar e se questionar
Dando aulas, me ocorria ficar insatisfeito com o que ensinava. Pensava comigo mesmo: “não é bem assim”. Perguntava, então, aos alunos: “O que vocês acharam dessa explicação?” “Eu não sei, professor, parece que está confusa.” É bastante óbvio que pesquisas surgem de más respostas. (...)
Se eu enfrentava muita apatia dos estudantes? Claro! Vou lhe dar uma resposta e você vai achar que é pura demagogia, mas não é. Quando tinha aluno assim, muito distraído, muito aborrecido, eu dizia assim: “Mas a minha aula está chata pra caramba. Não envolveu a todos. Aquele lá está quietinho”. Aí, eu fazia uma pergunta para ele.
Agora, conforme vai passando o tempo, você vê uma coisa nas salas: você fala uma coisa e muitos olhos brilham. Você tocou num ponto importante da inteligência daqueles alunos, os olhos deles brilham. Eu queria muito que todo mundo brilhasse o olho na aula, sabe?
Mas tinha aqueles que, realmente, não gostavam de linguística – nem tinham de gostar. Mais recentemente, impliquei com um aluno que passava a aula mexendo no celular. Eu achava que aquilo era desrespeito, não apenas falta de interesse. Perguntei por que o aluno só dava atenção ao celular. Olhe a resposta: “Não. O senhor está falando de uma coisa, eu estou procurando aqui”. Está tudo na internet, está tudo no ar. Aprendi mais uma, naquele dia. Afinal, o conhecimento não tem fim, e ninguém é seu porta-voz.
Ataliba de Castilho, ex-professor de Língua Portuguesa na Universidade Estadual Paulista (Unesp-Marília), do Departamento de Linguística da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e de Filologia e Língua Portuguesa na Universidade de São Paulo (USP); autor de Nova Gramática do Português Brasileiro (Contexto, 2010), entre outros livros.
Confira a entrevista com os organizadores do livro:














