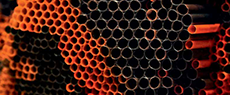Postado em
A cidade para todos

No livro “30 anos do AIPD: Ano Internacional das Pessoas Deficientes 1981– 2011”, publicado pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, o editor, escritor e ativista Luiz Baggio Neto relata seu suplício como cadeirante em um dos cartões postais da capital paulista durante a década de 1970. “Quando fazia o terceiro colegial, na Avenida Paulista, apesar dos apelos do meu pai ao diretor, durante um ano inteiro, todos os dias, tive de subir e descer cerca de 20 degraus carregado por meus amigos e colegas de classe para ter acesso a minha sala de aula”, escreve Baggio, que foi vítima do surto de poliomielite que assolou a cidade de São Paulo na década de 1950 e, como resultado, perdeu os movimentos de todos os membros, à exceção da mão esquerda. “Às vezes, era divertido, em outras, era um sufoco. Quebrei a cadeira de rodas duas vezes e vivi momentos de pânico. Obviamente, desconsideravam meu direito de estar ali. Hoje, se fizessem isso, era fácil, era só chamar a polícia ou o Ministério Público”.
Baggio faleceu em 2011, aos 56 anos de idade, mas seu relato permanece icônico não só porque mostra a mudança que se operou em São Paulo de lá para cá (hoje, ele usaria uma rampa de acesso e um elevador no Edifício Gazeta para chegar à mesma sala de aula), mas também porque ele foi um dos líderes do movimento que, a partir de 1979, deu protagonismo às pessoas com deficiência e intensificou o debate sobre inclusão, cujos reflexos hoje se espalham pelas cidades brasileiras. A acessibilidade, mesmo que hoje encampada por uma série de leis federais, estaduais e municipais, não deixa de ser uma luta social diária. Embora dados do Censo de 2010 coloquem a população de pessoas com deficiência do Brasil na casa dos 45 milhões, sua inclusão foi historicamente negligenciada pelos poderes público e privado. Para toda transformação positiva nas cidades, sempre surgem novas reivindicações. O piso dos ônibus foi rebaixado? Ótimo, mas não há rampa retrátil de acesso. Existe um serviço de transporte porta a porta com veículos adaptados para atender pessoas com deficiência física, mas nem sempre tais recursos contemplam pessoas que ficaram cegas e precisam de auxílio para aprender a se locomover pela cidade. As faixas de piso tátil (piso diferenciado, que se destaca do piso comum por sua textura perceptível por pessoas com deficiência visual e baixa visão) foram instaladas em algumas ruas, mas muitas calçadas ao redor do percurso continuam intransitáveis. Shows de música incluem intérpretes de Libras (a língua brasileira de sinais, usada pela maioria dos surdos do país), mas é raro encontrar audiodescrição em exposições de artes plásticas. O serviço de metrô tem funcionários à disposição para auxiliar seus usuários, mas o vão entre os trens e as plataformas permanece perigoso.
Essas questões, mais do que interferirem apenas no deslocamento de pessoas com deficiência, são a ponta de lança de uma discussão de fato mais complexa e mais profunda: a do direito à cidade. Quem tem e quem não tem, na prática, direito de usufruir de sua cidade hoje? E por quê?
Muito além da rampa
Vivenciar a cidade não envolve só se deslocar pelos seus passeios, mas usufruir de sua estrutura de transporte público e privado, ter acesso à saúde, educação, lazer, cultura, trabalho, esportes e habitação. Em outras palavras, o hábito de pensar somente nos cadeirantes quando o assunto é acessibilidade é – ou deveria ser – coisa do passado. O grande grupo das pessoas com deficiência inclui indivíduos com todo e qualquer déficit físico ou intelectual, de nascimento ou adquirido. Ou seja: cegos, surdos, surdocegos, afásicos, pessoas com autismo, paraplégicos, tetraplégicos, pessoas com síndrome de Down, e assim por diante. O paradigma em relação à acessibilidade evoluiu a partir dessa perspectiva. Onde antes se falava em “integração” da pessoa com deficiência, hoje se fala em “desenho universal” – em que os espaços e funções estejam sempre habilitados, a um só tempo, para todos. “É fundamental entendermos que a acessibilidade não é algo feito para um determinado grupo de pessoas. Ela tem de servir a todos. Todo mundo precisa de acessibilidade ambiental em algum momento da vida e se beneficia dela e da qualidade de vida que ela proporciona”, define Angélica Picceli, arquiteta urbanista e mestre em Design Universal. Concebido em 1997 por um grupo de pesquisa composto por arquitetos, engenheiros e designers liderados pelo arquiteto Robert Mace, nos Estados Unidos, o desenho universal ganhou aderência no Brasil somente em 2004, com a publicação do Decreto Federal 5296, que regulamenta a acessibilidade no país, e a Norma Técnica Brasileira NBR-9050/2004, que estabelece critérios técnicos. Trata-se de uma visão holística – que busca entender um fenômeno por completo, não pela junção de suas partes – de desenho urbano. “Acessibilidade arquitetônica não é somente provisão de acesso aos lugares, é um sistema que envolve o transporte, a comunicação, a infraestrutura urbana (ruas, calçadas, pontos de ônibus) e também as edificações”, completa Picceli.
Em São Paulo, um dos órgãos que mais luta pelo desenho universal é a Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA), vinculada à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), da Prefeitura de São Paulo. A função da CPA é elaborar normas e controlar a estrutura física da cidade para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência. Uma tarefa extremamente árdua em uma cidade desse porte. “Projetos urbanos, de design de mobiliários e transporte não saem do imaginário do projetista como desenho universal, e as empresas não querem investir. O ônibus na maioria das cidades é projetado para quem ainda é jovem, tem escada para acesso e degraus muito altos.
Idosos, pessoas com carrinhos de bebê, pessoas em cadeira de rodas, não conseguem entrar com dignidade. O que é feito? Altera-se o design do ônibus? Não, coloca-se uma plataforma de difícil uso e que muitos motoristas nem pensam em abrir”, ilustra Silvana Cambiaghi, arquiteta vinculada à Comissão Permanente de Acessibilidade.
Segundo ela, “estamos sempre corrigindo equívocos. São Paulo não foi concebida com planejamento urbano. Estamos arrumando a casa e para isso precisamos de muito investimento, tanto do poder público como da população, que também cria obstáculos”.
Espaços privados
Mas não só sobre espaços públicos são estruturadas as cidades. Quantos estabelecimentos comerciais privados são acessíveis, por exemplo? Na capital paulista, o Selo de Acessibilidade, criado em 2011 e concedido pela CPA, foi conferido a somente 600 edificações até hoje. Por que é que o restaurante da esquina não é acessível?
“Sabemos que muitas vezes o empresário não quer investir em acessibilidade achando que [as pessoas com deficiência] são um público que não compra, não se hospeda, não investe”, opina Silvana Cambiaghi.
Angélica Picceli concorda: “Falta informação sobre os benefícios dos espaços acessíveis. Há grande preconceito em relação a eles porque há uma crença que acessibilidade é somente para pessoas com deficiência. E acredita-se que o custo de construção das edificações acessíveis é maior do que no caso das edificações sem acessibilidade – o que é uma crença totalmente equivocada”.
O desenho universal é apenas parte de uma mudança conceitual que deslocou a responsabilidade de adaptação da pessoa com deficiência para o ambiente. “Isso é recente. É da década de 1980. Antes tivemos a segregação, depois a integração, e agora estamos na inclusão, que é a adaptação do ambiente para receber as minhas características”, explica Ana Cláudia Domingues, presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPED), interlocutora direta da sociedade civil com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED) da Prefeitura de São Paulo. Da mesma forma que o desenho universal impele a arquitetura para uma visão mais holística sobre a quem serve a acessibilidade, convém tornar mais abrangente a noção de a quem cabe praticá-la. Afinal, tornar a cidade acessível também cabe às pessoas.
Atitude inclusiva
Recentemente, Ana Cláudia Domingues teve uma experiência reveladora em um restaurante. Ela é cega. Seu trajeto da calçada até o restaurante foi excepcionalmente fácil graças ao piso tátil, ao elevador com avisos sonoros e às guias para bengala. Os problemas começaram quando ela entrou na fila preferencial do local. Uma funcionária se aproximou e disse que iria localizar alguém para ajudá-la. Depois de dez minutos, um funcionário, provavelmente escalado em cima da hora, se apresentou, prontamente pegou uma bandeja e se dirigiu ao bufê para servi-la, esquecendo completamente de buscá-la e de guiá-la pela oferta de alimentos. “Ele não sabia a forma correta de abordar, que é perguntar se pode pegar no braço ou ombro”, relata Ana Cláudia.
Na hora de descrever as opções, o funcionário deixou passar alguns pratos, e Ana Cláudia só não ficou sem um famoso patê de berinjela porque ouviu de orelhada alguém comentando sobre a cara boa do prato. “É um exemplo simples”, conclui. “Mas o funcionário poderia ter um preparo melhor para a abordagem na fila. Essas são as barreiras de atitude. Você chega em um espaço acessível, mas não consegue interagir com ele. Você entra em uma loja com vestiário adaptado e entrada rebaixada, só que lá não tem ninguém para te orientar. Ele pergunta o que você quer ver, sabe? Eu quero ver tudo!”, relata.
Ana Cláudia parece colecionar esse tipo de interação, e até se diverte com algumas delas. Como quando, nos pontos de ônibus, se aproxima da porta do veículo usando sua bengala, pergunta ao motorista se a linha passa em tal lugar, e o motorista responde abanando a cabeça em vez de falar. Ou sobre quando ameaçou Deus e o mundo em uma academia de natação porque se negaram a aceitá-la como aluna, alegando que não tinham nenhum professor qualificado. “Ora, se você nunca tiver uma aluna cega, nunca vai ter um professor qualificado”, argumentou na ocasião. Funcionou. Hoje Ana Cláudia tem aulas na mesma academia, e agora duas outras pessoas cegas também tomaram as raias da piscina.
Isso tudo não deveria ser encarado como favor dos responsáveis pelos estabelecimentos públicos ou privados. Ana Cláudia conhece seus direitos. A primeira linha do primeiro artigo da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, aprovada em julho de 2015 e em vigor desde janeiro de 2016, já estabelece como objetivo “assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”. Também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, a lei, marco do movimento pela acessibilidade, regulamenta o acesso igualitário da pessoa com deficiência a todos os aspectos da vida pública e privada. As barreiras atitudinais encontradas por Ana Cláudia em uma simples ida ao restaurante contrariam, portanto, a própria lei. Mas não é no tribunal que se mudam atitudes de despreparo para lidar com as pessoas com deficiência. É na sala de aula. Manifestação pode ser física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla. Só o Estado de São Paulo concentra 9 milhões de pessoas desse total, segundo o Censo 2010.
Educação
Rodrigo Hübner Mendes é um dos responsáveis pela educação inclusiva no Brasil. Diretor-executivo e fundador do instituto que leva seu nome, Rodrigo idealizou sua organização sem fins lucrativos em 1997, em São Paulo, para oferecer aulas de arte a pessoas com deficiência. Em 2005, o Instituto Rodrigo Mendes (IRM) tomou um novo rumo. “Começaram a chegar muitas demandas no instituto por parte de escolas e professores que perguntavam se a gente tinha algum curso sobre como incluir pessoas com deficiência na escola comum”, relata. “Foi um pico de demanda, e eu percebi que era uma oportunidade importante. Me articulei com alguns outros empreendedores sociais e a gente conseguiu um recurso bem modesto para fazer uma experiência piloto sobre educação. Com isso a gente iniciou um programa que se chama Plural”, explica.
O programa, que inicialmente promovia a formação continuada em educação inclusiva por meio da arte, colocou o IRM em contato próximo com a realidade da educação pública no Brasil. Aos poucos, o programa foi além da arte, e passou a promover a troca de experiências e a formação de educadores sobre o ensino inclusivo.
O modelo, que orienta educadores e instituições a receber em salas de aula convencionais alunos com deficiência, combate a exclusão e a segregação ao promover o convívio entre pessoas sem deficiência e pessoas com deficiência – e, dessa forma, atacar as barreiras atitudinais. “Até há pouco tempo, a segregação era dominante: ou eram escolas especiais, que só atendiam pessoas com deficiência, ou salas especiais. Você imagina quanto isso era limitado em termos de estímulo. A criança ficava ali com 3 ou 4 pessoas com perfis semelhantes em termos de interação e desafio”, diz.
“Hoje, os três paradigmas – exclusão, segregação e inclusão – ainda convivem, mas os dois primeiros não são mais tendência. Há 15 anos, 80% das matrículas de ensino fundamental no Brasil eram para o modelo de segregação. Hoje, 80% das matrículas são para escolas inclusivas. Lógico que é sempre bom lembrar que isso é o percentual de quem está na escola. Porque tem muita gente ainda no primeiro paradigma, o da exclusão”, explica Rodrigo.
Ou seja, a exclusão, um dos maiores desafios da educação no país, afeta em especial pessoas com deficiência. Segundo estudo realizado pela Unicef em 2014, 3,8 milhões de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos estão fora da escola no Brasil, e 14,6 milhões podem abandonar os estudos por não estarem matriculadas na série adequada à sua idade. “É prematuro dizer que a solução está na educação, porque primeiro a educação precisa ser acessível”, pondera Rodrigo Mendes. Tetraplégico desde os 18 anos de idade, Mendes reconhece uma melhora nas questões de acessibilidade nas últimas décadas, mas também enxerga um longo caminho à frente. “Estamos em um processo”, resume. Para as pessoas engajadas com o movimento de acessibilidade, o sentimento é sempre ponderado, algo como um otimismo cauteloso.
A cidade para todos não é uma utopia, mas, apesar das conquistas e mudanças que vemos em ação hoje, a causa ainda precisa avançar muito. A cidade não é só um conjunto de equipamentos urbanos. É uma malha orgânica que se expande e se modifica, movida pela ação de milhões de indivíduos. É essa malha que precisa, em sua integridade, passar por uma mudança de cultura sobre o conceito de acessibilidade. “Eu acredito que [a preocupação com isso] deva ser uma coisa dentro das pessoas”, diz Marciel Alves da Silva, assessor e intérprete de Libras da Secretaria Municipal de São Paulo da Pessoa com Deficiência. “Se vou construir um restaurante, tenho que pensar em todo mundo. Nisso a gente pode melhorar bastante”, conclui.