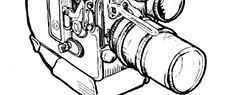Postado em
Experimentação Teatral
Ator de televisão, teatro e cinema, Enrique Diaz fundou e dirige a Cia. dos Atores desde 1990, em trabalho reconhecido pela experimentação e metalinguagem. Desde 2002, trabalha em parceria com o Coletivo Improviso em peças como Otro e Não Olhe Agora.
Recebeu o Prêmio Mambembe, em 1984, por sua atuação em O Dragão Verde, de Maria Clara Machado, o Prêmio Molière pela direção de A Bao a Qu (Um Lance de Dados) em 1991 e os prêmios Shell, Mambembe e Sharp pela direção de Melodrama entre 1995 e 1996. Em fevereiro, esteve em cartaz com a Cia. dos Atores com a peça Ensaio.Hamlet no Sesc Belenzinho.
Em depoimento à Revista E, ele fala sobre os diferentes moldes da direção teatral e sobre os desafios de intercalar atuação e direção em um mesmo espetáculo. “É uma coisa bastante delicada. Parece que tem uma parte do cérebro que fica vigiando, precisando olhar criticamente para poder pensar a qualidade e outra que não tem que pensar criticamente demais, para não comprometer a entrega em cena.” A seguir, trechos.
Início da carreira
Comecei fazendo teatro um pouco porque meu irmão é ator. Comecei a fazer aulas bem novinho, na escola em que ele dava aula, há mais de 30 anos. Meu irmão, o Chico [Diaz], trabalhava com o Carlos Wilson, que era conhecido no Rio de Janeiro, do Teatro Tablado, por conviver com muita gente jovem. Inclusive lançou muita gente que é bem conhecida hoje, tanto meu irmão quanto a Fernanda Torres, o Pedro Cardoso. Enquanto fazia aula com ele, já comecei a fazer algumas coisas no Tablado. Foi um mergulho, comecei a fazer muita coisa, muito rápido, iluminação, atuar...
Alguns anos depois fui fazer jornalismo, mas continuava com o teatro em paralelo. Nessa época da faculdade, eu tinha todo um aparato teórico – de teoria da comunicação, de semiótica – que me instigava dentro do trabalho de teatro também. Com isso, autodidaticamente fui me interessando não exatamente em dirigir – não foi um projeto me tornar diretor –, era um interesse pelo trabalho, pelo tipo de comunicação que estava pressuposto no trabalho de teatro.
Eu lia muito as teorias teatrais e juntava com os estudos de comunicação. Aí propus para vários colegas, atores que eu encontrava nos outros trabalhos, uma espécie de oficina – que eu coordenaria, mas que seria um encontro para experimentar certas coisas.
Depois sugeri um projeto bem alternativo para três atores: uma adaptação de Perseguição e Assassinato de Jean-Paul Marat representado pelo Grupo Teatral do Hospício de Charenton sob a Direção do Marquês de Sade, do Peter Weiss, misturado com A Morte de Danton, do Georg Büchner, e A Missão, do Heiner Müller. São três peças sobre a revolução, não a mesma revolução, mas a ideia de revolução. Essa experiência bem-sucedida nos estimulou a experimentar mais coisas.
No terceiro projeto achei que aquilo já estava se tornando uma companhia e começamos a encarar o trabalho desse jeito, foi quando iniciamos de fato. A companhia nunca teve um projeto a priori, propus que a gente considerasse aquilo como uma companhia para poder pensar dentro de uma perspectiva de continuidade, a nossa relação e o trabalho.
Diretor e ator ao mesmo tempo
É uma coisa bastante delicada. No meu caso funcionou muito por causa de meus parceiros. Tinha um trabalho muito coletivo, então era mais possível. Dependendo da peça, eu tinha que sair um pouco e depois voltar. Em vários casos, pensei em não atuar. Foi o caso da Gaivota [Gaivota – Tema para um Conto Curto, de 2007], depois voltei e fui achando meu espaço.
Em outros casos, cheguei a estrear a peça sem atuar, depois entrei substituindo – o que é bem mais fácil. De qualquer forma é delicado. Parece que tem uma parte do cérebro que fica vigiando, precisando olhar criticamente para poder pensar a qualidade, e outra que não tem que pensar criticamente demais para não comprometer a entrega em cena. Fiz várias vezes e acabei vendo que era uma necessidade de considerar o trabalho como uma experiência, mais do que uma obra, e não que fosse uma vocação minha atuar e dirigir ao mesmo tempo. Então, o fato de eu estar em cena era como se eu falasse “isto aqui está vivo e eu estou aqui dentro”, e não “isto aqui está pronto e eu estou aqui fora”.
Dramaturgia colaborativa
Sempre acho que as coisas acontecem linkadas, há todo um movimento de geração. No caso do Brasil, realmente o período da ditadura e pós-ditadura afetou profundamente o tipo de diálogo que as gerações que cresceram nesse momento tinham com a criação, com a inserção da criação no tecido social, com o diálogo com o público e outras instâncias da cultura. Isso foi acontecendo de forma bastante orgânica e acho que é resultado de uma necessidade de encontro mesmo.
De uma necessidade de desierarquizar e encontrar um espaço de diálogo, de afeto, de dúvida, de prazer. Acredito que isso tem acontecido de maneira diferenciada no Brasil em relação ao resto do mundo, até mesmo porque na Europa, por exemplo, a figura do diretor centralizador é muito forte ainda. Acho que temos um movimento de geração bem forte.
Diferentes modelos de trabalho
As diferenças são muito grandes entre trabalhar com a companhia e em outras produções. Para quem está acostumado com esse diálogo muito franco, essa cumplicidade, essa sensação de time, de as pessoas dessa coletividade não terem medo desse lugar que é híbrido, meio misturado, em que podem dar muita opinião sobre tudo (e ao mesmo tempo sabem que os espaços e as funções são diferentes), é uma confiança muito grande.
Em qualquer coletividade recém-formada para um projeto específico você gasta um tempo para estabelecer essa relação. As pessoas acabam sendo mais defensivas porque elas não têm um espaço de continuidade. Elas não vão pressupor a continuidade de uma relação com aquelas pessoas que estão ali, portanto não constroem nesse sentido. Ainda assim você pode ter relações muito boas, interessantes e ricas, com novas parcerias. Inclusive em produções que não são, por assim dizer, de encomenda – são produções que eu faço, produzo, mas que não são de companhias, são parceiros, que é o que eu tenho vivido mais, inclusive.
Projetos com parceiros
In on It, por exemplo, é um projeto nesse molde. Eu produzi com o Fernando Eiras e o Emílio de Mello, que são meus amigos. Eles não são produtores da peça, então eles podem dar opiniões, mas sem ser uma decisão coletiva. Ao mesmo tempo, a gente tem uma profunda colaboração na criação, eu na função de diretor e eles na de atores.
Agora estou fazendo uma produção do mesmo autor do In on It, chama-se A Primeira Vista. É a mesma coisa, não é uma companhia, mas é um trabalho de parceria. Tenho o trabalho do Coletivo Improviso também. Nesse caso, aproxima-se de uma companhia, porque é um coletivo, mas é um coletivo com uma geometria variável, como costumo dizer.
Portanto, não é uma companhia no sentido de compromisso, ele é um ponto de encontro, mas a gente produz um encontro marcado, que faz a gente ter essa relação de intimidade, de risco, que é muito boa. É um trabalho que mistura nossa natureza, a formação das pessoas, uma diversidade muito maior – porque tem bailarinos, atores, músicos, várias pessoas que dirigem, coreógrafos. Então é um espaço de trabalho de colaboração que naturalmente quebra até a fronteira do teatro – porque é meio teatro, meio dança, meio performance. A gente fez Performance na Rua, em 2002, depois Não Olhe Agora, em 2003, e retomamos Otro no ano retrasado.
::