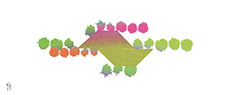Postado em
Cultura: memória e amnésia
Diariamente, delegamos às redes sociais, computadores e “nuvens” todos os fatos e acontecimentos que deveríamos “salvar” em nosso hardware. Levando em consideração que o ato de recordar e o de esquecer também estão associados à construção da autoimagem de grupos, culturas e nações, que fatos e expressões culturais mantemos ativos na memória? E quais os reflexos do esquecimento? Discutem o tema o professor Márcio Seligmann-Silva, titular do curso de Teoria Literária da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e autor de Ler o Livro do Mundo (Iluminuras, 1999), e a artista Giselle Beiguelman, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (USP) e coautora de Futuros Possíveis: Arte, Museus e Arquivos Digitais (Edusp/Peirópolis, 2014).
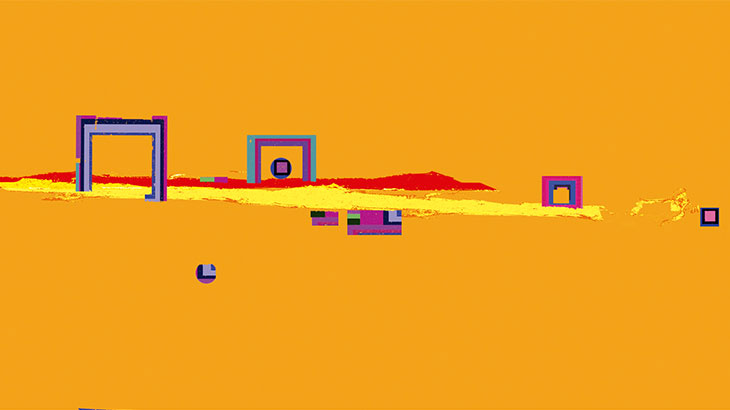
Ilustração: Marcos Garuti
Os poderes da arte da memória
por Márcio Seligmann-Silva
Na paisagem da geografia mítica da Grécia antiga, dois rios paralelos cruzavam os limites do Hades, ou seja, o além: Letes, o rio do esquecimento e Mnemosyne, o rio da recordação. Esse paralelismo não deixa de ser sintomático: memória e esquecimento caminham juntos, de modo que um não existe sem o outro. A história do esquecimento é digna de nota: se na Antiguidade acreditava-se na capacidade de se desenvolver a memória e vencer o esquecimento, o homem moderno está convencido de duas coisas só aparentemente irreconciliáveis: a certeza de que tudo o que percebemos se inscreve em nós e o saber de que a maior parte de nossa memória nos é inconsciente. Freud foi o primeiro a tentar explicar isso.
Tanto na visão antiga quanto na moderna, atribui-se ao esquecimento um teor negativo. Verdade em grego é alétheia, ou seja, não esquecimento. Lembrar-se, ensinava Sócrates, é a forma de atingir a verdade (esquecida porque, segundo ele, ao nascermos havíamos antes bebido das águas de Letes). Já a psicanálise nos ensina a prática da recordação como terapia. A “talking cure” (cura pela fala) é também uma cura pela rememoração, ou assim se apresenta. O paradoxo é que essa recordação visa permitir (nietzscheanamente) a possibilidade de um esquecimento não culpado.
Mas a nossa era da onipresença das imagens modificou a história da relação entre memória e esquecimento. Nossos mega-arquivos virtuais prometem a perenidade de uma memória total da humanidade. O avesso disso é nossa indiferença com relação ao esquecer: se tudo está armazenado, não precisamos nos lembrar de nada por nós mesmos. Vivemos confortavelmente de próteses de memória: embalados nas ondas do rio da web. Sócrates, ao afirmar que a escrita levaria ao esquecimento, já adiantara o modelo dessa crítica às técnicas de armazenamento em mais de dois mil anos.
Não podemos perder de vista que memória e esquecimento têm tudo a ver também com a construção da autoimagem de grupos, culturas e nações. A memória é composta de muitas camadas que se interconectam: existe um aspecto dela que é cumulativo (que armazena fatos), mas ela é também responsável por cimentar os grupos. A memória nos vincula. Ao compartilhar memórias, construímos um bem comum que nos une. Toda memória, já dizia Maurice Halbwachs, é de algum modo coletiva. Isso tem a ver também com o fato de que somos seres políticos, vivemos em sociedades e as memórias fornecem nossos dados que estão na base dos pactos morais e de nossos hábitos.
Mais do que nunca, em uma época de crise das grandes narrativas e teorias, a memória se transformou em um dos últimos bastiões da ética. Temos que pensar na prática da memória como uma prática política que pode ajudar a construir uma sociedade mais igualitária e justa. Toda sociedade é atravessada por querelas em torno do que recordar e de modo geral nos esquecemos de muito mais coisas do que podemos recordar. Por exemplo, se pegarmos nossas práticas memorialísticas que nos marcavam até recentemente, veremos que nossos modelos eram figuras como generais, estadistas e os nossos bandeirantes, pessoas que na vida real dificilmente podemos dizer que foram modelos de convivência ética e dialógica. Nossos monumentos e nossos “heróis” são ainda frutos de uma historiografia elitista voltada para reafirmar a história dos vencedores, que afirmava de modo enfático o sistema e glorificava o progresso (técnico e de um determinado modelo socioeconômico) como algo positivo e inexorável. Mas esses “vencedores” sempre triunfaram espezinhando a maioria da população.
Daí se pensar hoje a necessidade de fazer uma virada mnemônica nas encenações de nossa memória. Em vez de comemorar os “grandes vultos da nação”, bandeirantes que escravizavam e matavam indígenas, por exemplo, devemos comemorar os próprios indígenas (que vivem neste continente há milhares de anos sem nunca ter destruído nada de sua natureza). Devemos comemorar os afrodescendentes que lutaram e lutam pela sua emancipação, assim como os que participam de movimentos sociais do campo e das cidades. Assim estaremos construindo uma memória ética, um genuíno meio capaz de plasmar uma sociedade melhor.
Nossos artistas são justamente alguns dos principais agentes dessa nova arte da memória ética. Eles têm a capacidade de nos apresentar os conflitos sociais de modo a produzir pontes, abrir arcos que nos conectam com as vítimas daquilo que a ideologia chama de “progresso”, mas que é na verdade a continuidade da exploração dos homens pelos homens e dos homens sobre a natureza.
No cinema, por exemplo, a memória se tornou um tema em si, sobretudo desde a Segunda Guerra Mundial. Aquele acúmulo de violência produziu uma nova estética do cinema, voltada para mostrar os escombros, como no neorrealismo italiano, lembremos do Alemanha, Ano Zero, de R. Rossellini, de 1948, e, dentro de uma nova estética e ética da memória, do muito influente Noite e Neblina, de Alain Resnais, de 1955, sobre o holocausto. Toda a obra de Resnais reflete sobre a memória, como seu fundamental Hiroshima, Meu Amor (1959) e O Ano Passado em Marienbad (1961). Chris Marker, que foi assistente de Resnais, tornou-se depois um dos maiores criadores de um estilo de cinema-arquivo, voltado para documentar sua época, das imagens do Japão às lutas políticas na Europa e na América Latina.
No Brasil é importante lembrar uma nova cinematografia que tem se desenvolvido em torno do registro da ditadura de 1964-1985. Se a sociedade brasileira de um modo geral resiste à inscrição e leitura das memórias daquele período, os cineastas se tornaram plasmadores de uma poderosa contramemória, com filmes como o pioneiro Que Bom Te Ver Viva (de Lucia Murat, 1989), Cidadão Boilesen (de Chaim Litewski, 2009), Os Dias com Ele (de Maria Clara Escobar, 2014), Orestes (de Rodrigo Siqueira, 2015), entre tantos outros. Não podemos nos esquecer do cinema de Eduardo Coutinho, que criou uma verdadeira escola do cinema-testemunho no Brasil, na linha do que Claude Lanzmann e Marcel Ophüls haviam iniciado nos anos 1970. A uma era de catástrofes, grandes cineastas respondem com uma estética e ética do testemunho.
Nas artes plásticas, o mesmo movimento pode ser descrito. Nossa grande artista do (des)esquecimento no Brasil é, sem dúvida, Rosângela Rennó. Como ela costuma dizer, sua obra lida com o esquecimento: e, particularmente no Brasil, tendemos a esquecer a violência. Sua obra se dá em amplo diálogo e incorporação da fotografia, algo também sintomático, já que é uma marca dessa nova arte da memória lançar mão do dispositivo da fotografia. Essa arte quer captar o “real”, seus “traços”, como nas fotos, sobretudo na sua era analógica. Também uma nova geração de artistas têm se dedicado à memória, repaginando a história do Brasil de modo muito criativo e carregado de um forte potencial de revisionismo crítico.
Dessa nova geração, destacaria, entre tantos interessantes, os nomes de: Clara Ianni, Jaime Lauriano, Lais Myrrha, Beto Shwafaty, Bruno Baptistelli, Erica Ferrari, Frederico Filippi, Raphael Escobar, José Carlos Martinat, Regina Parra, Paulo Nazareth, João Castilho, Thiago Martins de Melo e Virginia Medeiros. Como figuras centrais nessa linhagem da reconfiguração da paisagem da memória e de inscrição programática de uma memória dos “vencidos” é central recordar nomes como Cildo Meireles, Claudia Andujar, Paulo Bruscky, Bené Fonteles, Artur Barrio e de Frans Krajcberg com sua arte ecológica.
Com as obras desses artistas adentramos páginas não escritas pela memória institucional e “oficial”. Eles são autores de poderosos dispositivos que abrem nossos olhos para populações e fatos invisibilizados pela mídia. Se hoje as águas de Letes e Mnemosyne parecem estar misturadas, essas obras são como arcas que portam os escombros de uma humanidade que sobreviveu ao seu próprio naufrágio, mas também peças de construção de um mundo novo talvez menos violento.
________________________
Eles (os artistas) são autores de poderosos dispositivos que abrem nossos olhos para populações e fatos invisibilizados pela mídia
________________________
Márcio Seligmann-Silva é professor titular de Teoria Literária na Unicamp, e autor de Ler o Livro do Mundo (Iluminuras, 1999) e de O Local da Diferença (Editora 34, 2005), entre outras obras.
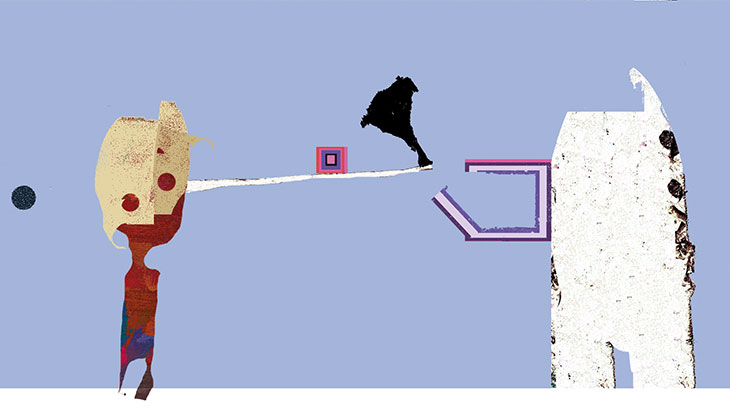
Ilustração: Marcos Garuti
Museus das perdas
por Giselle Beiguelman
Obsolescência, equipamentos disfuncionais e arquivos não encontrados. Essa parece ser a imagem mais perfeita da cultura digital e o paradigma da vida online. Tenho repetido que talvez essa iminência da desaparição justifique o tom apocalíptico que vem sugerindo nos comandos mais elementares de manuseio dos programas de edição digitais, que nos convidam a todo tempo a “salvar” arquivos e não simplesmente guardá-los. O alarde tem certa razão de ser e por isso retomo aqui considerações que já fiz em outras ocasiões. Apesar de uma das máximas da contemporaneidade ser “a internet não esquece”, a verdade é que as redes sociais não nos deixam lembrar. A arquitetura de informação desses espaços de dados em fluxo não se presta a consultas retrospectivas.
Isso não quer dizer que os dados não estejam lá. Pelo contrário. Estão. Só não são acessíveis por sistemas de busca. O que não impede que sigamos publicando em escalas de petabytes, produzindo uma overdose documental sem precedentes na história.
No que diz respeito à criação artística para a internet, a net art, isso aparece em projetos que, ao lidar por rearranjos de informações, como definiu a artista e professora Victoria Vesna, formulam uma “estética dos bancos de dados”. Configuram metaobras que incorporam não apenas obras de outras artistas, mas também do próprio público e as funções do ambiente em que são apresentadas (comandos do browser, estrutura das redes sociais etc.).
Do ponto de vista da conservação, projetos artísticos que operam nessa dimensão meta-autoral, sobre a base de outros programas, são obras bastante difíceis. Tomo como exemplo The Wilderness Downtown (2010), fruto de uma parceria do diretor de cinema Chris Milk com o artista Aaron Koblin e a banda Arcade Fire. Videoclipe especialmente concebido para a internet é considerado um marco na história do audiovisual em rede. Tendo a faixa We Used to Wait como base, explorava as possibilidades de jogar com a cidade em que o “espectador” (na falta de melhor palavra) cresceu, misturando imagens e dados desse local à música. Para tanto, demandava que cada visitante inserisse o seu endereço naquela época, na entrada do site. A partir daí, cruzava imagens geolocalizadas disponíveis no Google, com referências do videoclipe.
A visualização do projeto hoje, sete anos depois, é prejudicada pelo aumento de resolução das telas, que desalinha as várias janelas que o projeto superpõe. Mas isso é um problema menor e manualmente contornável. O que importa destacar é que a obra responde a um modelo meta-autoral bastante particular da cultura web 2.0, o mashup de software e conteúdo. Derivado das práticas de remixagem musical, não são apropriações integrais de determinadas estruturas tecnológicas, mas usos de seus recursos para outros fins. Apesar de aparecerem como um terceiro produto, mashups desse tipo mantêm a integralidade dos sistemas que utilizam nos seus processos, como ocorre, por exemplo, com o Google News. No caso de The Wilderness Downtown, integram-se diferentes plataformas – Google Maps e Google busca– com o disco da banda e as imagens produzidas por Milk.
Sua conservação exigiria a possibilidade de gerir as partes que compõem a obra e isso é inviável. Primeiramente porque os conteúdos provêm de sistemas dinâmicos. A cada busca de imagens relacionadas a um endereço, podem-se obter diferentes respostas. Isso dependerá de vários fatores e, fundamentalmente, da popularidade dos conteúdos na internet. Falamos, portanto, de um sistema absolutamente fora da possibilidade do controle do artista e da instituição. Sobretudo, não é possível assegurar a manutenção das próprias plataformas, pois elas podem ser descontinuadas a qualquer momento e deixar de existir.
É verdade que o contexto sempre interfere na compreensão da obra de arte. Contudo, a internet cria uma situação inédita em que a relação entre conteúdo e contexto é de intercâmbio permanente. Em ambientes online, o contexto não só interfere na recepção da obra, como também modeliza essa recepção. Afinal, a net art é bem mais do que arte criada para a internet. É arte que depende da internet para se realizar, um tipo de criação que lida com diferentes tipos de conexão, de navegadores, de velocidade de tráfego, de qualidade de monitor, resolução de tela e outras tantas variáveis que alteram as formas de recepção. O que se vê é resultado de incontáveis possibilidades de combinação entre essas variáveis e entre programas distintos, sistemas operacionais e suas respectivas formas de personalização.
Trata-se, portanto, de uma arte intrinsecamente ligada a uma fruição do/em trânsito. Obras que só se dão a ler enquanto estiverem em fluxo, transmitidas entre computadores e interfaces diversas. Do ponto de vista da preservação, essas condições impedem a possibilidade de manutenção da obra no seu todo, haja vista que o contexto que as modelizava é irrecuperável.
Além disso, estamos falando aqui de uma forma de arte que compreende uma outra estética: uma estética da transmissão. Nela, as diferenças de infraestrutura, como a velocidade de conexão, impactam sobremaneira a experiência das obras. As mais antigas, muitas vezes concebidas levando em conta taxas baixíssimas de trânsito dos dados, típicas das conexões discadas dos anos 1990, têm hoje sua fruição comprometida pelas novas condições das redes.
Discutir, portanto, a conservação de net art exige ir além da discussão da obra em si. Implica pensar um conjunto de transformações em que se conjugam questões de impedimento de acesso às obras com mudanças do contexto a que as obras remetem (seus links ou plataformas associadas) e à própria infraestrutura da rede.
Como o museu reagirá a essas novas dinâmicas? Se a opção for procurar formas de congelar, de alguma maneira, o ambiente da net art de um dado momento – tarefa que me parece absolutamente impossível –, corre-se o risco de pensar o museu nos termos de um estranho gabinete de curiosidades do futuro do passado. Na melhor das hipóteses, um eco rouco de uma advertência feita por Adorno, que escreveu que a associação entre museu e mausoléu não é apenas fonética. É fruto de um trabalho político e ideológico de neutralização da cultura.
Outra possibilidade é renunciar a esse tipo de conservação e retomar Robert Smithson quando diz que: “Em vez de nos fazer lembrar o passado como os antigos monumentos, os novos monumentos parecem fazer-nos esquecer o futuro. (...) Eles não são construídos para as épocas, mas sim contra as épocas” (1966). Nessa linha de raciocínio, poderíamos pensar que, em vez de celebrar um futuro progressivamente mais estável, preservando fragmentos do passado, os museus de net art deveriam ser os museus do inacabado, do não reparado e do não recuperado. Ao fazer isso, eles nos permitirão lidar com a irreversibilidade das perdas – de hardware, software e todos os vínculos afetivos que cada vez mais as redes ensejam – sem contar com um processo iminente de desaparecimento.
________________________
Apesar de uma das máximas da contemporaneidade ser “a internet não esquece”, a verdade é que as redes sociais não nos deixam lembrar. A arquitetura de informação desses espaços de dados em fluxo não se presta a consultas retrospectivas
________________________
Giselle Beiguelman é artista e professora da FAU-USP, é coautora de Futuros Possíveis: Arte, Museus e Arquivos Digitais (Edusp/Peirópolis, 2014), e tem obras que integram coleções de museus nacionais, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC) da USP, e internacionais, a exemplo do ZKM, na Alemanha.