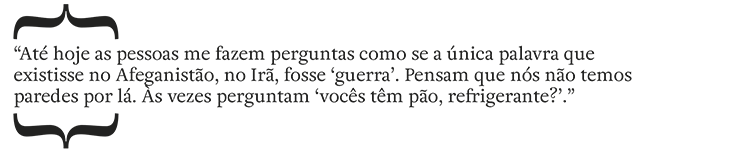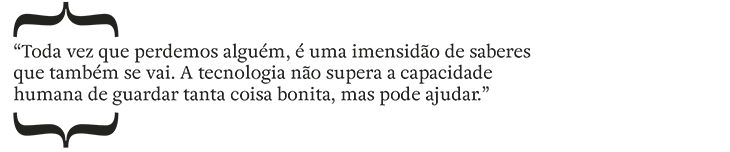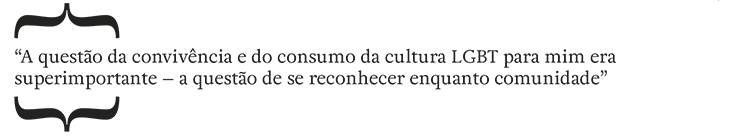Memória: um ato de resistência
Postado em 11/06/2019
“A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia.” Essas palavras, de Jacques Le Goff, célebre historiador francês, parecem ecoar sob a superfície dos depoimentos das páginas a seguir. Nelas, cinco representantes da sociedade civil tecem relatos impregnados da consciência do valor da memória como forma de (re)conhecimento de um lugar no mundo e também de resistência à opressão. Afinal, “a memória coletiva é não somente uma conquista, é também um instrumento e um objeto de poder”.
entrevistas: João Paulo Guadanucci e Gabriel Vituri
(Foto: Gabriel Vituri)

Descobri minha identidade étnico-racial nos bailes black dos anos 1970. Até 1977, recém formado pelo Senai, quando fui trabalhar numa loja de plástico industrial, eu tinha problemas de autoestima seríssimos: alisava o cabelo, pensava que as meninas não queriam saber de mim. Aí, por causa do trabalho, comecei a circular pela região central da cidade e encontrei um universo novo.
Eu ingressei no movimento negro pelo caminho da literatura. Publiquei no Cadernos Negros [publicação literária criada em 1978 e que desde então vem sendo lançada anualmente pelo grupo Quilombhoje] um conto ambientado na Vila Itororó, onde morava uma namorada, e mais tarde processei a experiência daquele lugar. Talvez por essa razão eu tenha criado uma certa obsessão por estudar a região do Piques [o termo, que também dá nome ao obelisco erguido no Largo da Memória, caracteriza o local cheio de escadas e ladeiras na região do Anhangabaú, bem como outros espaços próximos, como o Terminal Bandeira]. É assim que nasce essa identidade: eu, São Paulo, o patrimônio negro da cidade, somos todos uma coisa só.
A primeira coisa que me chamou a atenção no Piques foi o painel de azulejo do José Wasth Rodrigues, que retrata a tropa, o fazendeiro, o guarda imperial, o escravocrata, toda uma cena, e duas negras pegando água em um chafariz. Ali estão as classes que compunham a sociedade naquele momento. Com o tempo fui entendendo o significado, especialmente quando conheci o Tebas [importante arquiteto do século 18, responsável por construções como a torre da primeira Catedral da Sé, e que foi escravizado até os 57 anos], seu Chafariz da Misericórdia, e a importância dos negros escravizados que iam apanhar água para abastecer a cidade. Isso coloca o sujeito negro no processo de formação do espaço urbano, como protagonista.
Acho que há uma geração nova propensa a continuar essa luta de reconhecimento, mas talvez a gente precise construir mais isso. Nós fomos muito envolvidos pelo espírito neoliberal, especialmente quem nasceu nos anos 1980. Mesmo os mais antigos, se não ficarmos alertas, somos levados por esse fluxo. O inimigo é a velocidade, essa fragmentação, que não permite que a gente olhe para a gente mesmo, para a cidade, e isso dificulta a conexão entre um tempo e outro.

(Foto: Gabriel Vituri)
Quando nós tivemos que ir embora, antes de aparecer a oportunidade de pedir refúgio ao Brasil, nós tínhamos outros quatro países em vista: Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e Austrália. Eu nunca imaginei que estaria neste lugar. Geralmente, havia pouca informação sobre como as coisas eram, e o que nós líamos nos livros dizia que era um país cheio de florestas, jacarés e anacondas. Por isso, quando recebi uma resposta positiva do embaixador na Turquia dizendo que poderíamos nos mudar para cá, vou falar a verdade: fiquei com muito medo.
Chegando aqui, essa imagem rapidamente mudou. Precisamos de uns meses para descobrir as coisas e as pessoas, fizemos algumas amizades, então aquela ideia que tínhamos se apagou. Por outro lado, até hoje as pessoas me fazem perguntas como se a única palavra que existisse no Afeganistão, no Irã, fosse “guerra”. Pensam que nós não temos paredes por lá. Às vezes perguntam “vocês têm pão, refrigerante?”. Uma vez queriam saber se eu levava uma bomba na mochila. Fico um pouco triste, penso se eles não têm razão para perguntar, e preciso explicar que nem todo mundo é assim.
Eu estava na faculdade de teatro e cinema, no Irã, em Teerã, e meu pai ficou doente. “Filho, não quer trocar para medicina pra ajudar o povo?”, sugeriu. Eu fiz uma prova para ganhar bolsa, ganhei 100% para estudar por cinco anos. Depois disso, você entra no hospital e ganha um pouco pra pagar os cursos de especialização e os livros. Eu gostava de atuar e dirigir, e também já cheguei a escrever peça e poesia, coisa que tenho feito aqui no Brasil. Queria começar a fazer em português, mas ainda preciso de tempo.
Por que uma pessoa deixa tudo pra trás, família, amigos? Estudei medicina, me formei, tive clínicas, funcionários, mas hoje não tenho mais nada de lá. Por causa de uma situação que não é culpa minha, preciso deixar o país. Eu vivi no meu país de origem até os seis anos. Depois disso, sempre estive em situação de refúgio. Estudei medicina no Irã e trabalhava com os Médicos sem Fronteiras porque achava que o importante era ajudar. Eu não tenho vergonha de falar que sou refugiado, porque infelizmente há guerra no meu país há mais de quarenta anos, e eu quero viver. Não acho que a vida precise ser sempre boa, mas quero viver.

(Foto: Renata Teixeira)
Para o povo Guarani Mbya, ter nossas memórias registradas e guardadas é o que ajuda de fato a dar continuidade para muitos saberes, ainda que eles às vezes fiquem somente no campo da oralidade.
Aqui na Tenondé Porã, por exemplo, somos uma comunidade com mais de 100 famílias e vivemos por muitos anos numa área pequena. E aí, em 2016, quando tivemos a demarcação da terra maior, de forma mais justa, as pessoas, apesar de não terem praticado por bastante tempo todos os seus saberes sobre plantio, colheita, reconhecimentos das fases da lua, melhor construção das casas e certos modos de se relacionar com a natureza, tudo isso começou a acontecer de novo de forma natural. Não foi preciso estudar muito, não foi preciso fazer um curso de anos para aprender novamente, porque mantivemos na memória como se dão essas práticas.
Há momentos em que isso é passado: em núcleos familiares, dos mais velhos aos mais jovens; durante uma visita; durante encontros em que se desenvolvem conversas sobre a cultura Guarani; em reuniões com pessoas de outras aldeias; ou também nos rituais. Acho que esse é o ponto mais forte, quando fazemos os batizados da erva mate, do milho, e aí todo mundo vai para a casa de reza, onde fazemos as danças, as cantorias, porque há muito tempo para conversarmos.
Esse ritual acontece em uma casa que chamamos de opy’i, o espaço mais importante para o povo Guarani em todas as aldeias. Ali acontece a transmissão, o compartilhamento de saberes.
Hoje vivemos em uma área com quase 3.000 pessoas, e há poucas delas que são mais velhas, como a Brandina, que já passou dos cem anos e é uma senhora muito linda e charmosa, equilibrada em seu corpo físico, que é capaz de sentar de cócoras com o milho no fogo e depois come o alimento pronto com seus próprios dentes.
Quanto antes a gente conseguir colocar no papel os ensinamentos dessas gerações, melhor. Para fazer parte desse registro de memórias antigas nos utilizamos de algumas tecnologias, porque fica mais rápido, e toda vez que perdemos alguém, é uma imensidão de saberes que também se vai. Seguimos uma conduta aqui de tentar guardar mais, para que talvez outras gerações consigam aprender coisas que ficaram gravadas. A tecnologia não supera a capacidade humana de guardar tanta coisa bonita, mas pode ajudar.

(Foto: Acervo/Museu da Pessoa)
A minha história é igual à de outros caiçaras que moram na região de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Uma das lutas que todos enfrentaram, e ainda enfrentam, é contra a especulação imobiliária. O primeiro impacto que chegou em nossas comunidades veio disso. Os caras vinham de fora, traziam búfalos, jagunços, e pressionavam a sair correndo dali. Hoje a gente sabe que todas as comunidades tradicionais do Brasil enfrentaram essa briga por território.
Lembro do meu pai contando que, na década de 1930, aqui na Jureia, chegaram pessoas na casa da minha avó Joana dizendo que ela precisava vender a terra dela. Delegado, dono de cartório, diziam que era para sair, porque era um espaço muito grande, diziam que ela não iria conseguir pagar os impostos, que outras pessoas invadiriam, então era melhor vender e ganhar um dinheiro, comprar uma casa boa, um monte de coisas. Ela acabou cedendo. Assinou uma papelada com o dono do cartório. Quer dizer, colocou o dedo no papel, porque era analfabeta, não sabia assinar. Disseram que iriam até a cidade buscar o dinheiro para pagá-la, e nunca trouxeram nada de volta. Isso foi se repetindo depois ao longo dos anos.
Dizem que existia um homem que andava a cavalo, armado, pressionando os moradores, queimando casas, e as pessoas acabavam assustadas e iam embora. Nasci em 1964, e na década de 1980 presenciei a chegada de uma empresa que queria construir uma cidade, condomínio fechado, e aí começou a pressão. Tivemos que nos organizar politicamente.
Em seguida apareceu a ideia de construir uma usina nuclear, e a especulação transformou a região em uma área de segurança nacional. Era outra pressão: Exército, Marinha, empresas, virou um inferno, abriram estrada dentro das terras, fizeram um estardalhaço. Depois vieram os ambientalistas: tiravam fotos com as comunidades, faziam pressão contra a usina, contra a especulação, e queriam transformar o espaço em um santuário ecológico. Quando você fala em santuário, a comunidade gosta, pensamos que ia ser bom. Acolhemos. Em 1986, foi criada a Estação Ecológica de Jureia-Itatins. Criaram as leis, mas todo mundo sumiu.
Com isso, começamos a receber polícia florestal, ambiental, tiravam nossas armadilhas de pesca, nossas canoas, não podíamos fazer mais nada, porque era estação ecológica. Nós nunca destruímos, estávamos há oito gerações no lugar, e aí queriam nos proibir de fazer a roça, de pescar, de limpar trilha e reformar as casas. Tivemos que nos organizar de novo.
De lá pra cá, entrei com mais força nesse movimento pra que a gente garantisse a permanência das comunidades. Criamos a União dos Moradores da Jureia, em 1989, e em 1993 criamos a Associação dos Jovens da Jureia. Enquanto a União trabalhava a questão política, os jovens trabalhavam a questão da cultura, dos conhecimentos tradicionais, os festejos, o fandango, as plantas medicinais.
Uma comunidade que não tem terra é uma comunidade sem identidade, sem cultura. É ali que ela consegue passar as tradições e os conhecimentos adiante. A luta pelo território é importante. As pessoas de fora não tem que fazer pra gente, elas têm é que fazer com a gente.

(Foto: Sesc São Paulo)
Sou psicólogo, me formei em Curitiba e, enquanto ativista e militante, não comecei no movimento LGBT, e sim no movimento estudantil. Estar na universidade me deu bastante noção sobre direitos humanos, sobre política. Muito antes do meu ativismo eu já era participante da cultura LGBT. Desde a minha adolescência eu ia aos shows de drags, aos bares gays, então a questão da convivência e do consumo dessa cultura para mim era superimportante – a questão de se reconhecer enquanto comunidade.
Eu colecionava muitas coisas, isso vem muito da minha paixão pelas produções culturais LGBTs. Tinha uma coleção considerável de G Magazines [revista direcionada ao público gay], de revistas, de livros. Era algo do meu cotidiano, de diversão, de identidade, de lazer, dos espaços e das comunidades, das minhas parcerias, de amigos e amigas, da produção literária que também me instigava. Então era isso que perpassava o meu começo, uma ideia de colecionador, de guardar coisas que eu encontrava e ia guardando.
Em 2010 conheci meu ex-marido, o Felipe, e aí nesse encontro começamos a estruturar o que depois viria a ser o Acervo Bajubá. A partir dessa paixão, começamos a juntar o que ele tinha da área acadêmica, de uma reflexão mais teórica, junto com a coleção que eu acumulava. Acho que a estruturação do projeto do acervo em si acabou aparecendo quando a gente ao acaso encontrou em um antiquário uma obra bem particular e importante tanto para a nossa história quanto para a história do projeto. É um quadro em nanquim do Darcy Penteado, em que uma mulher faz sexo oral em outra, e no canto da tela tinha uma breve anotação que dizia: ilustração 4 da obra “Eu sou uma lésbica”.
Além da literatura e da história da arte transformista brasileira, outra frente de pesquisa do acervo é a história do movimento homossexual brasileiro e suas proximidades e tensões com o movimento de esquerda. Fora isso, também investigamos a história, via memória LGBT, sobre a epidemia de HIV/Aids no Brasil.
De maneira geral, o Acervo é um projeto para englobar pessoas, visando a defesa, a promoção e a difusão da cultura, do patrimônio histórico artístico dessa comunidade de LGBTSs brasileiros. É salvaguardar e principalmente difundir e promover memórias com o intuito justamente de relembrar essa história: que seja potência pra gente relembrar no cotidiano.